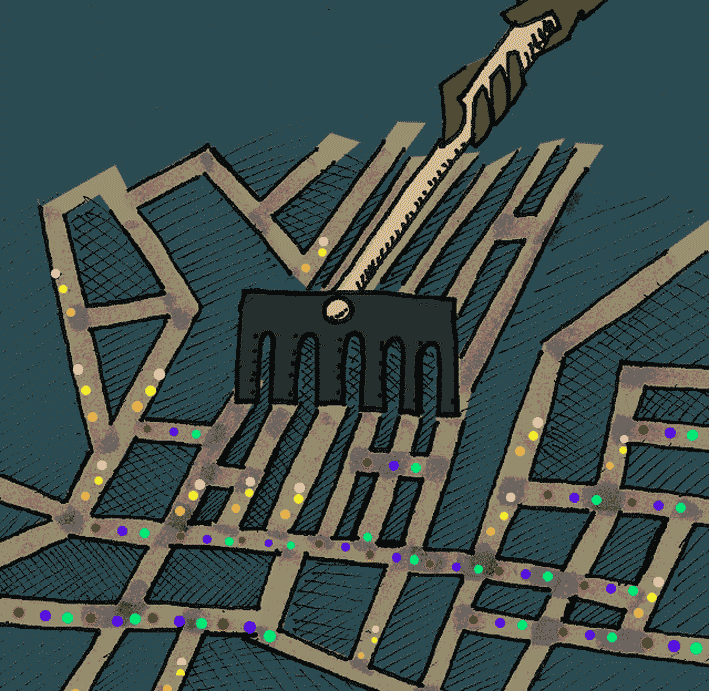entrevista
agricultura familiar, antropologia, campo, cidade, circulação, entrevista, homossocial, identidade, número 23, Silvana de Souza Nascimento, Thiago Fonseca
Pesquisa de campo
Uma abordagem antropológica chacoalhando os preconceitos sobre gênero e sexualidade fora das grandes cidades. Por Coletivo Geni
Publicado em 25/06/2015
Nossa entrevista do mês foi com Silvana Nascimento. Professora do Departamento de Antropologia da USP e pesquisadora do Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana (NAU-USP), Silvana atuou também como professora na UFPB entre 2007 a 2012. Atualmente é pesquisadora colaboradora do Grupo de Pesquisa em Etnografias Urbanas (Guetu-UFPB), membro do Núcleo de Direitos Humanos e da Cidadania da UFPB e faz parte do corpo editorial da coleção Sexta Feira – Antropologia, Artes e Humanidades.
Nosso primeiro contato com Silvana se deu a partir do curso livre “Gênero, diversidade sexual e direitos humanos”, coordenado ao longo desse primeiro semestre por ela e Jacqueline Teixeira no ILP (Instituto do Legislativo Paulista). Sabendo que sua trajetória de pesquisa envolvia tanto antropologia urbana como relações entre campo e cidade, fronteiras urbanas, gênero, sexualidade, sociabilidade e festas, fomos trocar ideias para alimentar a Geni campo. Segue um tanto dessa conversa desencaixotadora:
A Geni desse mês aborda a temática do campo, por isso a gente pensou em conversar com você tendo como base algumas questões que surgiram. Como esse tema se tornou o foco da sua pesquisa?
Silvana: Em 1997 entrei no mestrado em antropologia na USP: minha pesquisa era sobre uma festa popular rural que se chama Festa do Divino Pai Eterno, em Goiás, no Santuário de Trindade, perto de Goiânia. Nesse santuário, os devotos vão em romaria, em carro de boi, vários camponeses do entorno de Goiânia, que trabalham com pecuária. Eu me interessava em compreender a relação rural-urbano nessa festa católica, porque tinha interesse em trabalhar com festa popular, sempre gostei do assunto. Para o mestrado, durante três anos acompanhei um grupo de romeiros do município de Mossâmedes, que é pequeno e trabalha com pecuária leiteira. Eu fazia as romarias com eles. O interesse não eram questões de gênero, era a questão da festa e da relação rural-urbano. Mas na hora da defesa foi mudando. Primeiro me aproximei das mulheres, por ser um universo totalmente homossocial. Tenho um artigo publicado na Cadernos Pagu, chamado “Homem com homem, mulher com mulher“. Nesse universo, com as mulheres de um lado e os homens de outro, me aproximei muito delas e começaram a surgir muitas questões de gênero que depois foram aprofundadas no meu doutorado sobre gênero e sociabilidade nessa região, ampliando um pouco as áreas.
E depois?
Silvana: Saí da academia, fui fazer outras coisas da vida, inclusive atuando no movimento feminista, mas depois fui para a Universidade Federal da Paraíba trabalhar como professora. Fiquei seis anos lá e fiz algumas pesquisas com mulheres rurais, coordenadas por uma socióloga chamada Loreley Garcia. Pesquisamos o impacto dos programas de agricultura familiar na vida das mulheres na região do Cariri na Paraíba, e verificar se havia alguma transformação nas relações de gênero. A gente publicou um livro chamado Família como armadilha depois de observar que esse programa da agricultura familiar reproduzia o modelo de dominação masculina em alguns aspectos. Por exemplo, são elas que recebem os incentivos do governo de microcrédito, de incentivo a sementes, mas são os homens que decidem o que fazer com o dinheiro. Tudo passa por elas pela documentação, porque, pela política pública, seria para a emancipação das mulheres, mas não era bem assim. Alguns eram assentamentos de antigos MSTs e, mesmo assim, as mulheres continuavam em posição de subordinação. A gente faz uma crítica a esses programas, porque “agricultura familiar” aparece como sinônimo de homem-mulher-filhos e o homem que domina, é algo que reproduz esse patriarcado antigo.
Em Goiás me concentrei nas famílias de pequenos proprietários rurais, que trabalham com gado. As mulheres fazem os serviços domésticos e os homens atuam na pecuária. Me chamava a atenção que as famílias tinham pouquíssimos filhos: as mulheres tinham, no máximo, dois. Grande parte das mulheres faz a laqueadura até os vinte anos, mais ou menos, logo depois do segundo filho. Ou seja, para elas é um método contraceptivo. Até os anos 1980/1990, no Brasil, muitas muitas vezes os médicos incentivavam a laqueadura de forma indevida. Teve um plano de controle de natalidade no campo e a região de Goiás foi a mais atingida, de forma bem pesada. Mas o que eu observei foi que elas se apropriaram dessa política a seu favor. Assim, as mulheres que têm só filhos homens ficam com muita autonomia, porque os meninos, com seis, sete anos vão trabalhar com os pais na roça. Acompanhei isso durante dez anos e percebi que as mulheres, as mães, começaram a voltar a estudar. Como têm menos filhos, não precisam ocupar todo o tempo com as crianças, e, se elas tiverem a “sorte” de ter filho homem, eles vão trabalhar e elas ficam livres pra começar a estudar.
Muitas começaram a fazer curso supletivo, algumas eram professoras das escolas rurais, mas tinham pouca formação e começaram a se aprofundar. Algumas fizeram até curso por correspondência. Daí, coincidiu com o momento em que o governo passou a implantar universidades públicas no interior, em vários lugares: no Nordeste, no Centro-Oeste, etc., e elas foram para a universidade. Eram mulheres com o quarto, quinto ano completo, que voltaram a estudar, depois foram pro ensino superior. Interessantíssimo ver que que elas se escolarizaram, e algumas hoje são professoras universitárias, mas continuam morando no campo, continuam casadas e os maridos permanecem com escolaridade baixa. Houve brigas entre casais, maridos que não queriam que as mulheres estudassem, mas era uma minoria, um em trinta. E elas se reuniam e faziam uma estratégia de convencer. Por exemplo: um marido que era mais aberto convencia o outro de que estava tudo bem. Era para convencer de que seria uma coisa boa, que a mulher seria escolarizada, etc. Por um lado, você tem uma mudança de mentalidade na vida dessas mulheres, por conta da inserção na universidade, da escolaridade, do tipo de assunto que elas discutem na faculdade, mas, por outro, a vida em casa, no campo, permanece a mesma e os maridos continuam trabalhando com pecuária.
É interessante poder observar esse percurso, essas trajetórias de vida…
Silvana: Pois é. Hoje elas têm acesso à internet, eu as acompanho pelo Facebook, mas é muito interessante como, na antropologia, as coisas nunca são homogêneas, sempre são mais complexas do que a gente pensa. Isso me intrigava, porque temos um estereótipo do mundo rural sendo sempre patriarcal; mas, na verdade, lá há, de certa forma, machismo, como existe em toda a sociedade. O que acontece é que, como a sociedade é muito dividida entre homens e mulheres, cada um tendo seu papel muito definido, isso faz com que as mulheres também possam construir sua autonomia de forma paralela.
Eu discutia isso muito com a Loreley Garcia, na Paraíba: uma leitura do movimento feminista a partir do contexto pesquisado no interior paraibano e goiano. Quando eu fiz a pesquisa nos anos 1990 não havia ainda um movimento de mulheres rurais como hoje existe. Elas eram influenciadas, sim, pelo MST, mas muito mais voltadas pra questão da Pastoral da Terra, da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, que foi muito importante no começo do MST. Elas não tinham contato com esse movimento de mulheres rurais, elas tinham contato com o MST pelos padres. Eram padres da região que lutaram pela propriedade da terra, para democratizar a terra.
No caso da Paraíba, o que a gente via era que o movimento feminista era urbano e a política pública que chegou até lá vinha de fora, descontextualizada. O tipo de conteúdo que o movimento urbano apresentava não coincidia com a vida das mulheres rurais. Claro que não é da noite para o dia que as coisas se transformam, mas é como se elas não conseguissem dialogar muito bem. Elas faziam oficinas, conversavam com as mulheres, tinha oficinas de violência, por exemplo, que foram importantes, mas era difícil a conversa, porque os conceitos de gênero que o movimento trazia da cidade era totalmente diferente do que elas viam. E a política pública da agricultura familiar impedia, emperrava essa transformação das relações de gênero. Depois, meus estudos saíram da temática do campo… Ainda me preocupo com a relação campo-cidade, mas hoje trabalho com a população de mulheres trans e, sobretudo, travestis da Paraíba. Muitas são originárias do campo, algumas são indígenas, e elas mantêm contato com as comunidades de origem, continuam a visitar a família, ajudam a pagar as contas da família rural. Então, o que eu também vi nessa pesquisa das travestis é que, como elas não rompem com a família, não são como essas que a gente vê, por exemplo, em São Paulo, no Rio, que romperam com a família e estão lá, elas mantêm esse vínculo familiar. Isso tem a ver com uma certa visão de mundo camponesa, o que é algo que, na verdade, eu estou pensando agora (risos). Talvez tenha a ver com uma visão de mundo camponesa, que vincula as pessoas à família.
Na verdade, você conseguiu juntar duas coisas que eram o mote original pra nossa edição. A gente queria trabalhar com dois estereótipos que são os mais recorrentes sobre o campo: o de que os papéis de gênero seriam mais fixos do que na cidade e de que no campo a vivência das sexualidades não hegemônicas seria mais controlada e mais restrita. Se você não for levar uma vida hétero, você tem que fugir pra cidade…
Silvana: O que a gente vê, na verdade, é que, na Paraíba, quanto ao público LGBT, a discriminação mais violenta, de homicídios, de mutilações, acontece na capital. O movimento LGBT da Paraíba fala que há muito preconceito, mas não se mata tanto quanto na cidade. Na capital, a violência é muito mais forte e também tem a questão da violência policial. Isso não acontece só lá. Tem um trabalho do Paulo Rogers Ferreira, uma dissertação linda, que chama Os afectos mal-ditos: o indizível das sexualidades camponesas, sobre sexualidades dissidentes no interior do Ceará, numa cidade minúscula. Ele vai mostrando um pouco como os homens héteros daquela cidadezinha pequena fazem arranjos homoafetivos nas moitas – são os “moitéis”. Muitos homens se relacionam entre si… Imagine um mundo grego no sertão. No meio do sertão do Ceará, eles se relacionam entre si, fazem sexo, mas são casados com mulheres. Isso é algo não dito, mas não significa que as pessoas não saibam. Assim, dentro desse universo de homens héteros casados, também existem meninos homossexuais, que também se relacionam com eles, mas é como se esses binarismos homo/hétero, casado/não casado fossem mais fluidos. Ele fez uma etnografia fina nesse lugar, é bem bacana, tem artigos na internet também. Talvez os papéis não sejam fixos. O que acontece é que, da maneira como a divisão do trabalho é organizada, há uma divisão sexual do trabalho. Por exemplo, em Goiás as mulheres trabalham com os animais domésticos, fazem todo o processo de alimentação, – almoço, janta – produzem o polvilho da mandioca nos meses de julho, agosto, e isso é um trabalho delas; os homens trabalham com a pecuária, tiram leite, fazem tudo que é voltado para o boi. Mas essa separação – que, se a gente pensar, poderia ser uma fixidez – na verdade, revela formas de convívio homossociais. Não são homossexuais, mas homossociais – que permite também que nesse ambiente homossocial uma pessoa que tenha uma identidade de gênero transsexual possa ser reconhecida como mulher e conviver nesse ambiente de forma mais ou menos pacífica. É justamente um modelo que tem relação com aquele clássico texto do Pierre Clastres, O Arco e o Cesto, que é belíssimo. Pensando bem, não tive acesso à população homossexual mesmo, em Goiás eu fiquei mais com as mulheres cis e os homens cis mesmo, nesse modelo heterossexual.
Mas o que percebia é que, na produção dos estudos de sexualidade e gênero, isso ainda merece ser mais pensado: falamos sempre como se o modelo heterossexual fosse um único modelo, o da heterossexualidade compulsória. E na verdade não é só um único modelo. Assim como há múltiplas sexualidades dissidentes de gays, lésbicas, bis, não-binários e todas as novas sexualidades que têm aparecido, o modelo heterossexual também tem variações. Foi o que eu comecei a pensar naquela época. Não dá para pensar num único modelo de heterossexualidade porque é totalmente diferente. O modelo rural é diferente do urbano e os modelos não necessariamente são opressores em relação às mulheres, entende?
É complexo demais pra estereotipar, colar o campo como homofóbico, machista, heterossexual e é só isso. Não é. Na verdade ele é tão complexo como o nosso mundo urbano. Vale também pensar nessa dicotomia campo/cidade, como se o campo fosse um universo isolado da cidade. Se você ver população X que tem no Nordeste, essas pessoas circulam de uma cidade minúscula, que é Araçagi, no interior da Paraíba, para a Itália. Elas vão de Araçagi para João Pessoa, depois vão para o Rio de Janeiro, de lá para Barcelona e para Roma. E elas trazem esses conhecimentos da Itália para Araçagi. Isso faz com que essas coisas se misturem.
Acho que está muito mais difícil pensar sobre o século XXI do que sobre os séculos anteriores.
E em relação à identidade camponesa, já que esse contexto do campo é tão diversificado? Para muitos movimentos a autoidentificação como “camponês” ou “camponesa” é muito importante, significa muito na luta.
Silvana: Acho que são duas coisas: uma é pensar identidade política, a outra é pensar a identidade do campo – o que configura o campo com um modelo de vida, uma cultura diferenciada. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a identidade política que se constrói a partir de uma reivindicação que necessita ser legitimada, ser reconhecida politicamente fora do movimento para se conquistar seus direitos. A outra é pensar o campo, se existe uma identidade do campo. Por exemplo, na Antropologia Urbana, o tema que eu estou estudando agora: o que que configura uma cidade? É complexo. O que é uma cidade? É difícil…
Eu procuro sempre fugir um pouco do tema da identidade, porque, como antropóloga, trabalho com etnografia, sempre no micro. E cada micro tem a sua própria identidade e não tem ao mesmo tempo. Na verdade, onde está a essência?
A gente planejou criar uma revista sobre gênero e sexualidade. Mas temos visto que, ao longo do tempo, temos sido referenciadxs mais como uma revista travesti e trans (mesmo não tendo, infelizmente, nenhum membro TT fixo no coletivo). Talvez pelo fato de que um dos nossos motes era fazer uma cobertura de gênero e sexualidade que fosse contrária ou, pelo menos, complementar à mídia mais convencional e comercial, e que tivesse uma abordagem politizada. Isso, sem que a gente percebesse, já foi levando a gente pra um recorte que acabou sendo espontâneo. Ou seja, temos identidades, mas é tudo processual.
Silvana: Na questão travesti/homossexual, mesmo sem querer a gente escorrega. É super difícil. Eu discuto um pouco isso no último texto que eu publiquei na Revista de Antropologia. Como antropóloga, na verdade, eu não procuro definir de antemão o que seja travesti/transsexual.
A primeira coisa que eu faço é pensar em uma auto-identificação, como a pessoa se identifica. Mas quando a gente vai pro movimento político, é diferente. Uma coisa é pensar nas travestis que estão na estrada, fazendo prostituição no Nordeste ou aqui, no metrô Butantã, que se dizem travestis… Outra coisa é pensar a travesti com identidade política, o que isso significa. Há outras que não querem ser vistas como travestis, ou querem ser vistas como mulheres trans. E também têm os homens trans…
Acho que é importante para a gente que escreve fazer essas distinções: uma coisa é identidade política, outra coisa é como as pessoas se sentem, se veem na vida cotidiana. A pessoa é múltipla e uma de suas facetas é a identidade política. Eu, por exemplo: as travestis e mulheres transsexuais me veem como mulher cis. Mas para mim, o termo “mulher cis” me essencializa. Eu não me sinto mulher cis porque eu não quero ser essencializada numa categoria. Só que talvez eu tenha que usar o mulher cis também e respeitar em alguns contextos. Porque isso também tem um significado político para as pessoas que se definem como trans. É uma sinuca de bico.
Como o monopólio dos meios de comunicação afeta as interações no campo? E como afetaria as questões específicas de gênero e sexualidade? Às vezes existe essa ideia de que na cidade temos mais informações, mas mesmo em grandes cidades existe muita campanha feita nos vidros dos ônibus, em meios de comunicação que não são exatamente televisão e internet. De que maneira daria pra articular isso?
Silvana: Eu não sei. Essa é uma ótima pergunta. Em Goiás, por exemplo, em relação à televisão… Não sei como está hoje, porque já faz algum tempo que eu não vou pra lá, mas era interessante observar que todas as informações que chegavam, apesar de existir um jornal local, eram via Rede Globo. E, mesmo com o jornal local, as notícias em grande medida falavam de São Paulo.
Era uma coisa totalmente descolada do contexto deles, e eles tinham uma visão de São Paulo totalmente absurda. Era só violência. Eles achavam um absurdo que eu, de São Paulo tivesse ido parar lá. Era um universo muito “global” o de São Paulo, e não tinha nada a ver com o que eu contava pra eles. Mas, na verdade, eu via que a televisão cumpria mais uma função de entretenimento. Eles viam mais a novela das oito. Nesse sentido, a televisão não tinha uma função de informação. A comunicação se dava pelas interações entre as pessoas. Se dava nas rezas, nas novenas. Você tem umas duas vezes na semana reuniões em que os grupos religiosos se encontram, e lá as informações são trocadas. Ou quando vai chegar o caminhão do leite, ele já vem com a informação. Eu me lembro por pegar carona no caminhão do leite. Eles circulavam entre as cidadezinhas e, assim, circulavam as informações também. Naquela época não tinha internet, mas depois de pouquíssimo tempo a internet apareceu. Acompanhando o Facebook, vejo que muita gente está nessa rede. A internet talvez tenha sido um meio de comunicação que alterou um pouco a situação, democratizou. No campo, havia uma rádio na cidadezinha de Mossâmedes, também era muito vinculado às questões da Igreja Católica. Essa região era, em grande parte, de católicos, que seguiam um catolicismo tradicional. E o padre da cidade tinha lutado pelo direito dos camponeses à terra, e terminou por levar um tiro e ficou cego. Foi uma pessoa militante, que veio da Pastoral da Terra, nos anos 1970, 1980, da Teologia da Libertação. Esses grupos de padres são muito poucos hoje no Brasil, porque foram muito reprimidos pela Igreja Católica.
Agora, na Paraíba, em Catolé da Rocha, que é uma cidadezinha pequena, eles têm um jornal, o Catolé News, que fala sobre movimento LGBT. Também têm um blog, página no Facebook e eu posso acompanhar. Eles fizeram agora um primeiro casamento coletivo homoafetivo lá em Catolé, que acho que é a primeira cidade do sertão em que houve isso na Paraíba. Como colocaram na rede, eu acompanhei. Ou seja, a internet é um fenômeno que democratizou, possibilitou [uma comunicação] que antes não havia. E, se a gente for pensar, na cidade a gente tem muito mais acesso a informações, mas, ao mesmo tempo, qual o veículo que impera? Qual o veículo que domina as informações? É a Rede Globo e a Editora Abril, ou seja, é a mesma coisa. As pessoas estão vendo a Rede Globo tanto aqui quanto no interior. Tem essa mídia de massa que atinge a todos. Então não vejo muita diferença, mas, de qualquer forma, não é um assunto que eu tenha pesquisado.
Mas está ótimo! Aproveitando para fazer a última pergunta. Nessa edição procuramos a pluralidade do campo. Convidamos tanto gente que está organizada quanto gente que não está. Indígenas, quilombolas, camponeses da região Sul, camponesas da região Nordeste (a Marcha das Margaridas), população atingida por barragens. Fomos tentando fazer um panorama no qual campo aparecesse mesmo como algo heterogêneo. Mas pensamos em lhe perguntar sobre um tema, um evento, algo que normalmente fica de fora de qualquer menção que se faz a campo. Você poderia dar alguma sugestão de algo que você sente falta de ser mencionado, que não costuma estar em revistas e na mídia em geral?
Silvana: Uma coisa que talvez não seja muito vista é essa questão da circulação. Não é migração, é circulação de pessoas, de alimentos. As feiras agroecológicas, por exemplo, que trazem produtos do campo para a cidade, numa circulação incrível. Tem a Luciana Wilm, doutoranda da Unicamp, que está analisando o percurso do açaí em Belém e arredores, saindo das cidades pequenas pelo rio até chegar na capital. Acho que a gente poderia pensar no nosso estereótipo de associar mobilidade e circulação a algo típico do meio urbano, quando na verdade a circulação também está presente no campo de uma maneira muito forte: circulação de alimentos, de pessoas e circulação pelas festas. Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo que trabalhou no campo por muito tempo, fala do camponês como se ele tivesse uma “alma nômade”, sempre em trânsito. Mesmo se formos pensar na imagem do vaqueiro do Euclides da Cunha, no Sertões, é a imagem de um homem em movimento, que circula, que vai tocar o gado. Então, quando eu penso em campo, penso em movimento, seja organizado, seja desorganizado, ou movimentos organizados por outras bases que não a política padrão. Movimento organizado pela religiosidade; movimentos milenaristas que existiram no Brasil, como Canudos; as romarias atuais pra São Francisco das Chagas, em Canindé [Ceará], ou aquela romaria do Círio de Nazaré [Belém do Pará] etc. Bom, eu pensaria nisso.
Ilustração: Thiago Fonseca