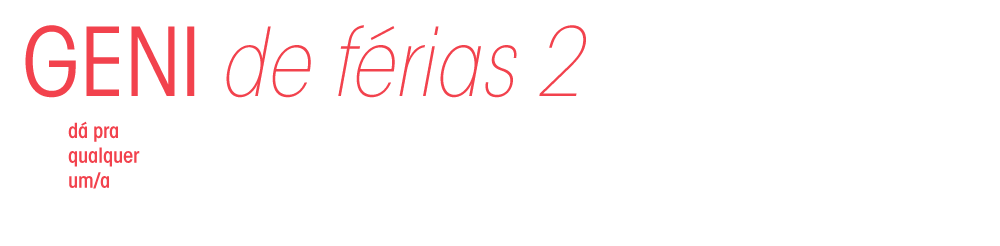resenha
Ouro sobre azul
Azul é a cor mais quente: um filme sobre como representar a mulher. Por Pedro “Pepa” Silva
Durante uma aula, estava eu lendo A noite na taverna, de Álvares de Azevedo, um livro de contos todo construído em torno do tema do “vir a ser homem”. (Coisa que eu só perceberia depois, naquelas conversas ‘universiotárias’ de bar, meio intelectual, meio de esquerda, meio paumolão, e nas quais podia surgir de vez em quando uma iluminação – ou uma obviedade!) Mas, como dizia, meu corpo ambivalente se partia em dois e estava em aula e nas páginas do livro, quando a professora comentou algo como “o olhar da câmera no cinema é essencialmente masculino”. Fui capturado pela frase. Acho até que alguém disse mais alguma coisa, mas eu já estava deslumbrado com aquela evidência pra continuar prestando atenção no livro e no restante da aula.
Talvez essa seja uma daquelas obviedades ululantes a que devemos voltar algumas vezes. Pra mim – então com 17 anos, chegando à universidade, vindo de uma família não letrada e preocupadíssimo em aprender literatura, artes e tudo aquilo que recebesse o título de “cultura” e supostamente me desse distinção –, aquela frase marcou. Foi uma daquelas ideias que nos fazem ressignificar as imagens e cenas que povoam nosso imaginário. Por alguma razão voltei a ela quando vi, no mês passado, o filme Azul é a cor mais quente (título mais interessante que o original, A vida de Adéle, diga-se).
A linha da beleza
Não vou dizer aqui que o nosso olhar sobre o filme é consequentemente machista e marcado pela transformação da relação lésbica em fetiche. Ou então dizer, como li por aí, que se trata de um grande filme sexista, violento e heteronormativo. Isso seria cair numa daquelas armadilhas da crítica automatizada e sucumbir à chatice, perdendo de vista o que o filme pode nos mostrar para além do nosso primeiro olhar, para além de nossas convicções e ideologias.
Aliás, o mais bonito não deveria ser justamente isso? Acho que precisamos exercitar também nossa capacidade de olhar para as linhas da beleza mais do que aplicar mecanicamente algumas ideias...
E é de beleza que o filme trata. Da tênue linha da beleza, e que pode não durar muito. Ali naquela esquina em que viramos e deixamos pra trás nosso corpo adolescente e seguimos com o mesmo corpo, mas um corpo já adulto, e sem saber exatamente o que nos fez mudar de condição. Da beleza na descoberta do amor e na descoberta das possibilidades do sexo. Da beleza da indefinição sobre o que vai ter de nos completar vida afora: trabalho? Família? Universidade? Filosofia? Ativismo? Arte?
É por isso que não dá pra reduzir o filme a categorias e oposições prontas. Dizer que o olho masculino de Kechiche conduz a um olhar automaticamente machista seria não reconhecer uma zona em que “masculino” não quer dizer “machista” (e essa confusão é comum nas críticas automatizadas que vejo por aí).
O olhar
Pois não é esse mesmo “olhar masculino” que permite, em seus closes quase sufocantes, minha aproximação a Adèle? Que me permite a comunhão com seu não pertencimento e sua indefinição? É ele que me permite por alguns momentos ser Adèle. E, nesse momento, eu já me esqueci daquela câmera masculina porque ela me permitiu ultrapassar essa barreira e sentir o secreto prazer da identificação. Ela se estruturou para que eu a utilizasse como ponte para chegar ao outro lado, para ser e sentir de novo (com Adèle, sendo Adèle) tudo o que, em certa medida, já sentimos em alguns momentos da vida.
E, vejam, o filme não deixa de tematizar justamente essa construção do olhar. Se fosse pra escolher só uma chave pra adentrar o filme, escolheria esta: Azul é um filme que ousa pensar a constituição do olhar sobre a mulher.
Não é por acaso que uma frase do escritor Pierre de Marivaux nos joga direto nesse problema. Na cena, os alunos estão lendo o romance A Vida de Marianne e o professor pede que a aluna ressalte um trecho: “Sou mulher e conto minha história”. E, assim, Kechiche assume de cara seu lugar, semelhante ao do escritor. Marianne é uma invenção masculina. Adèle também. E, se a câmera não coincide com o olhar de Adèle, não a faz contar em primeira pessoa sua história, é porque ela cumpre aqui um outro papel: o de musa, tanto de Kechiche quanto da namorada, Emma.
Mais adiante, o personagem Joachim destaca o desejo do homem de representar o prazer da mulher nas artes. No papo meio intelectual dos amigos de Emma, o assunto ressurge entre macarronada e um filme mudo que projeta gestos e expressões exageradas das atrizes. O que rege a representação que um homem faz de uma mulher? O que esse prazer feminino representado nas artes pode ter de “real”? Ou é um prazer imaginado, inventado? Ou, ainda, apenas desejado pelo homem? Talvez tivéssemos de ser na mesma vida homem e mulher, como no mito de Tirésias (citado no filme), para saber a dor e a delícia de se ser o que é.
O lugar e o sentido da arte não deixam de ser também questões fundamentais no filme. Não é didatismo. Kechiche não quer necessariamente ensinar ao público essas referências. Ele as usa para evidenciar seu próprio lugar de homem que representa o prazer de uma mulher.
Como nas obras do pintor vienense Egon Schiele, também citado no filme, Kechiche focaliza os corpos curvados e os órgãos sexuais, expõe o pedaço do prazer, provoca em sua plateia a pergunta sobre o grande medo que ainda existe diante da representação da boceta. Afinal, não deixam de ser feitas as mesmas perguntas: as atrizes ficaram peladas ou usaram próteses, tapa-sexo ou algo que o valha? Que horror é esse? Que normas secretas regem a boa representação do sexo? Alguém deveria se perguntar em vez de se incomodar com cenas longas (e lindas) de prazer feminino.
Não importa o que digam todos os textos sobre Azul é a cor mais quente – ele sempre será superior e escapará de alguma forma a uma necessidade de categorizá-lo e reduzi-lo a uma única visão sobre cinema, sobre amor, sobre sexo, sobre ideologia. Um exame mais detalhado do filme sugerirá que isso não é ingenuidade.
Por seu componente autocrítico e por se questionar sobre a representação da mulher, este não é um filme facilmente digerido com feminismos empacotados e oposições prontas. Há que conhecê-lo, destrinchá-lo. A mim, parece que o filme de Kechiche está a todo momento questionando a sua própria capacidade de nos prover uma experiência estética. Como se perguntasse até que ponto um olhar cansado e banalizado aguenta as três horas de filme e ainda busca nelas a beleza. Talvez a mesma beleza que Adèle, em sua caminhada, pretende encontrar – com a diferença de que ela a busca justamente onde muitos não estão procurando.