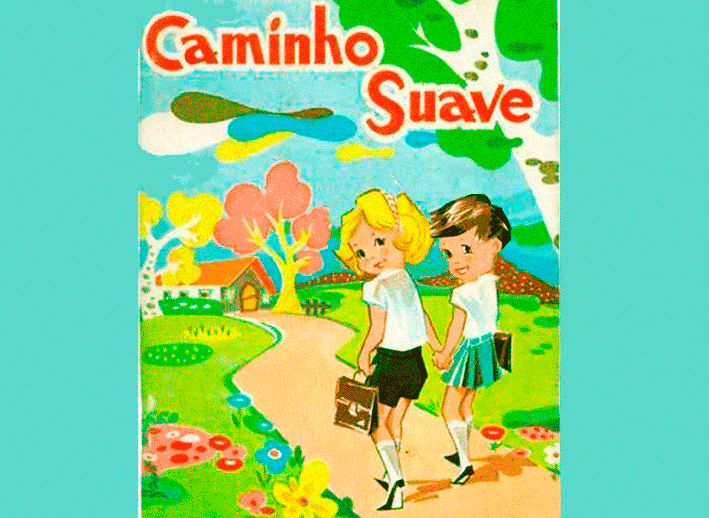campanha
Aline Sodré, educação, escola, gênero, Ideologia de Gênero, número 28, Plano Municipal de Educação, PME, Rodrigo Cruz, sexualidade
Mãe, nós precisamos ajudar essa garotada
O que eu diria à minha mãe e suas amigas do grupo de oração se eu tivesse cinco minutinhos para conversar sobre os Planos Municipais de Educação. Por Rodrigo Cruz*
Publicado em 31/01/2016
VAMOS BARRAR A IDEOLOGIA DE GÊNERO NAS ESCOLAS!
Foi assim, em caps lock, numa tarde chuvosa de inverno, que chegou até mim uma corrente de whatsapp pedindo aos cristãos de todo o Brasil que se mobilizassem contra o debate de gênero nas escolas. “A ideologia de gênero afirma que não existem sexos ao nascimento, que a sexualidade é uma construção social, e que as crianças podem escolher o que desejam ser”, dizia o texto. A remetente foi a minha mãe e, como eu descobriria mais tarde, a mensagem chegou até ela pelo whatsapp do grupo de oração. Resolvi levar a conversa a diante e perguntei o que era a tal de ideologia de gênero, mas mamãe, ciente do filho que tem, disse que mandou a mensagem por engano e pulou fora. Acontece. Já cometi gafes piores nessa internet de meu deus.
O que me deixou mais chocado com a tal corrente de whatsapp não foi a mensagem em si, cujo conteúdo eu estava careca de saber, mas o fato de que essa coisa toda chegou na minha mãe antes de mim. Fiquei pensando em todas as vezes que eu estive num protesto, num debate ou numa campanha eleitoral conversando com pessoas desconhecidas sobre temas como discriminação, pobreza, machismo e homofobia. Desejei um dia ter tirado dez minutinhos pra explicar pra minha mãe o que é gênero, orientação sexual, identidade de gênero etc e tal. Percebi que às vezes a gente erra feio por não conseguir dialogar com as pessoas que estão do nosso lado. Mas como dizem por aí, na política não há vácuo.
Não que a culpa dessa bagunça toda seja nossa. Dando continuidade aos eventos de 2014, quando o lobby da bancada religiosa no Congresso Nacional suprimiu a palavra “gênero” do texto final do Plano Nacional de Educação, a crescente mobilização de grupos conservadores garantiu, no ano passado, que o termo fosse retirado também dos Planos Municipais e Estaduais de Educação. Os movimentos feminista, LGBT e estudantil protestaram. Mas, nas casas legislativas tomadas pelo fundamentalismo, e elas são muitas atualmente, estudantes, mulheres e LGBT foram recebidos como arruaceiros, largamente revistados por guardas municipais e, em alguns casos, duramente reprimidos, ao passo que grupos conservadores eram recebidos com amabilidade acima da média.
Para se ter uma ideia, em São Paulo, não só a palavra “gênero” foi excluída do texto aprovado pelo plenário da Câmara Municipal e, posteriormente, sancionado pelo prefeito Fernando Haddad (PT), como qualquer outra referência que indicasse a possibilidade de justificar o debate, incluindo uma breve menção ao Plano Nacional de Direitos Humanos, de 2010, que citava de forma breve termo “gênero”, e à Lei Orgânica do Município, que falava sobre “estereótipos sexuais”. Em algumas casas legislativas, parlamentares chegaram a solicitar a supressão do termo “gênero textual” (que diz respeito às diferentes maneiras de organizar um texto – uma carta, um conto, uma biografia – e que nada tem a ver com o debate de gênero e sexualidade), sob a justificativa de que a palavra “gênero” não poderia constar na versão final do plano em hipótese alguma.
A ofensiva dos grupos conservadores ganhou apoio massivo (incluindo o pessoal do grupo de oração e, quiçá, da minha mãe) sob o argumento de que as políticas públicas para a educação e respeito à diversidade sexual nas escolas seriam uma questão ideológica. Como todos sabemos, as palavras “escola” e “ideologia”, quando postas na mesma frase, costumam causar calafrios em muita gente. O tal projeto “Escola sem Partido”, iniciativa conservadora que combate “a doutrinação político-ideológica” nas escolas brasileiras, está aí pra mostrar que muitas famílias reprovam a ideia de ter um “militante disfarçado de professor” transmitindo aos alunos “uma visão crítica da realidade”. Sob essa perspectiva, abordar as dimensões históricas, sociais, culturais e políticas que envolvem a construção da subjetividade de homens e mulheres e afetam de forma decisiva suas trajetórias enquanto cidadãos seria coisa de comunista.
Falemos então sobre realidade, esta que se encontra aprisionada entre aspas e sobre a qual não se quer discutir. Em 2009, uma pesquisa realizada em 501 escolas públicas de todo o país pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a pedido do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) entrevistou mais de 18,5 mil alunos, pais e mães, diretores, professores e funcionários. O resultado revelou que 99,3% dessas pessoas demonstravam algum tipo de preconceito de gênero, geracional, territorial, étnico-racial, sexual ou socioeconômico.
Quanto ao tipo de discriminação, 96,5% dos entrevistados apresentaram preconceito com relação a portadores de necessidades especiais, 94,2% preconceito étnico-racial, 93,5% preconceito de gênero, 91% preconceito geracional, 87,5% socioeconômico, 87,3% com relação à orientação sexual e 75,95% preconceito territorial.
A pesquisa, denominada Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, apontou que 99,9% dos entrevistados desejam manter distância de algum grupo social. As pessoas com deficiência intelectual são os que sofrem maior rejeição (98,9%), seguidas dos homossexuais (98,9%), ciganos (97,3%), pessoas com necessidades especiais (96,2%), indígenas (95,3%), pobres (94,9%), moradores da periferia ou de favelas (94,6%), moradores da área rural (91,1%) e negros (90,9%).
A discriminação e a violência de gênero nas escolas são, portanto, uma realidade. Reconhecer isso não tem nada de ideológico. Fechar os olhos, sim. Quando pessoas comuns, mobilizadas pelo discurso oportunista da “ideologia de gênero”, se manifestaram contrárias às políticas públicas de promoção da diversidade nas escolas, elas acreditavam estar protegendo seus filhos, netos e sobrinhos, quando, na verdade, estão lutando para que eles permaneçam tão vulneráveis como sempre estiveram. Isso porque, ao negligenciar o debate sobre os processos de discriminação a qual crianças e adolescentes estão submetidas, esses pais e mães estavam, na prática, defendendo a desresponsabilização da comunidade escolar na proteção integral de seus próprios filhos.
Os grupos conservadores argumentam que o ambiente mais adequado para o debate de gênero e sexualidade com crianças e adolescentes seria a família – tradicional, monogâmica e heterossexual. Também conhecida por essas bandas como família patriarcal. Um lugar seguro, eles dizem. Mas os números – de novo os números – mostram uma realidade bastante distinta. É lá que residem 80% dos agressores de mulheres vítimas de violência física ou feminicídio; onde ocorre 36% da violência sofrida por crianças de 0 a 9 anos e também 38,2% dos casos de violência contra pessoas LGBT no Brasil. Em resumo, a família se mantém como um espaço privilegiado reprodução e manutenção das violências sexuais e de gênero na nossa sociedade.
Ao lutar pela a retirada do debate de gênero dos Planos de Educação em nível nacional, os setores conservadores estão impondo o próprio esvaziamento do conceito de educação, retirando o seu caráter político e lavando as mãos diante das inúmeras situações de violência machista, homofóbica, lesbofóbica, racista e transfóbica que contribuem para perpetuar as desigualdades sociais no Brasil. Trata-se, portanto, de um passo importante em direção ao desmonte, precarização e privatização do ensino público. Não por acaso, a lógica que rege o debate não é muito diferente daquela que rege as demais iniciativas privatizantes dos Planos de Educação. O Estado não deve se responsabilizar pelo debate de gênero e sexualidade. Devemos manter essa discussão na esfera privada. Fim. Tudo muito conveniente, tudo muito neoliberal.
Para além do gênero
Um olhar mais atento aos Planos de Educação aprovados no ano passado revelam que o foco conservador nas questões de gênero contribuiu para encobrir uma série de outros ataques à educação pública embutidos no mesmo pacote. Em São Paulo, por exemplo, as alterações realizadas pela Câmara Municipal esvaziaram a meta de financiamento para a próxima década, descomprometendo o município a ampliar a destinação de recursos para a educação. Também foram suprimidas as estratégias censitárias de levantamento de demanda, prejudicando a expansão da educação infantil; reduziram-se as iniciativas de formação continuada para profissionais de educação; a gestão democrática foi enfraquecida e o Fórum Municipal de Educação se reduziu a uma instância auxiliar consultiva.
Ao mesmo tempo, o PME de São Paulo prejudica os setores mais pobres da população ao ampliar o prazo para a superação do analfabetismo de cinco para dez anos, suprimir a oferta da EJA e não prever a garantia de atendimento especializado às necessidades educacionais especiais. O texto aprovado também se desresponsabiliza da melhoria das condições de trabalho dos professores, uma vez que não garante a redução do número de estudantes por docente. Se considerarmos que a dimensão de gênero perpassa também o trabalho dos professores, cuja maior parte da categoria é formada por mulheres, podemos concluir que nada ali foi construído de forma acidental.
Finalmente, o PME também deixou o município livre para realizar os famosos “convênios” com entidades privadas para suprir o déficit de creches e escolas públicas, transferindo dinheiro da educação pública (que poderia ser utilizado para ampliar a rede) para alimentar os cofres da iniciativa privada. Em muitas cidades, como em São Paulo e Guarulhos, sindicatos e movimentos sociais denunciam há anos que várias dessas entidades, supostamente sem fins lucrativos, são gerenciadas por parentes dos próprios deputados e vereadores, que legislam em causa própria. No fim das contas, o debate de gênero foi oportunamente instrumentalizado para desviar o foco do processo de precarização do ensino público.
Se há algo de ideológico na discussão em torno dos Planos de Educação, certamente não é a proposta de educação para a diversidade tão brutalmente combatida, mas sim a batalha dos setores conservadores para precarizar a educação pública em todas as suas dimensões. Nesse sentido, a retirada do debate de gênero significa, na prática, a manutenção de uma espiral de desigualdade social que se reforça a cada geração. Desigualdade esta que, no nosso país, costuma ter gênero, raça, classe e orientação sexual bem definidas. Um processo de mobilização mais amplo da sociedade civil, que desse suporte a mobilização dos movimentos feminista, estudantil e LGBT, poderia ter contribuído para tirar o foco do debate moral, convencendo famílias inteiras, muitas delas dependentes do ensino publico, de que o que está em jogo não é um debate ideológico, mas sim o futuro daquilo que conhecemos como educação pública.
Se eu pudesse, de alguma forma, dispor de cinco minutinhos para conversar com as amigas do grupo de oração da minha mãe (e eu sei que elas são gente boníssima, que teriam a maior paciência em me ouvir), eu pediria a elas que perguntassem aos senhores deputados o que vai acontecer com a EJA no bairro em que elas moram, quantos alunos serão acomodados na sala de aula dos seus filhos no próximo ano letivo, quanto recebem as professoras, etc. Perguntaria ainda o que fariam caso um dos seus fosse agredido na escola em função da sua expressão de gênero. E finalmente, com as respostas em mãos, perguntaria se esse plano trabalha, de fato, a favor do futuro das nossas crianças e adolescentes.
À minha mãe, eu diria que nós não podemos permitir que a homofobia prejudique a trajetória educacional de outros garotos como eu. Fiquei pensando em todas as vezes em que eu vacilei pra contar em casa o motivo pelo qual eu morria de medo de ir pra escola. A verdade é que eu tinha pavor de ser chamado de viadinho nas aulas de Educação Física. E isso acontecia com frequência porque eu era um desastre em campo. Hoje, fico pensando que eu poderia ter aprendido a ser um bom atacante ou goleiro caso não fosse tão aceitável que os meus colegas me intimidassem daquela forma sem que as professoras nada fizessem. Minha mãe nunca soube porque eu não gostava de ir pra aula. Tenho pesadelos com a minha antiga escola até hoje. Pesadelos que só começaram a diminuir após cinco anos de terapia.
Mãe, nós precisamos ajudar essa garotada.
* Um agradecimento especial ao amigo Remom Matheus Bortolozzi que colaborou com informações mais que preciosas.
Ilustração: Aline Sodré