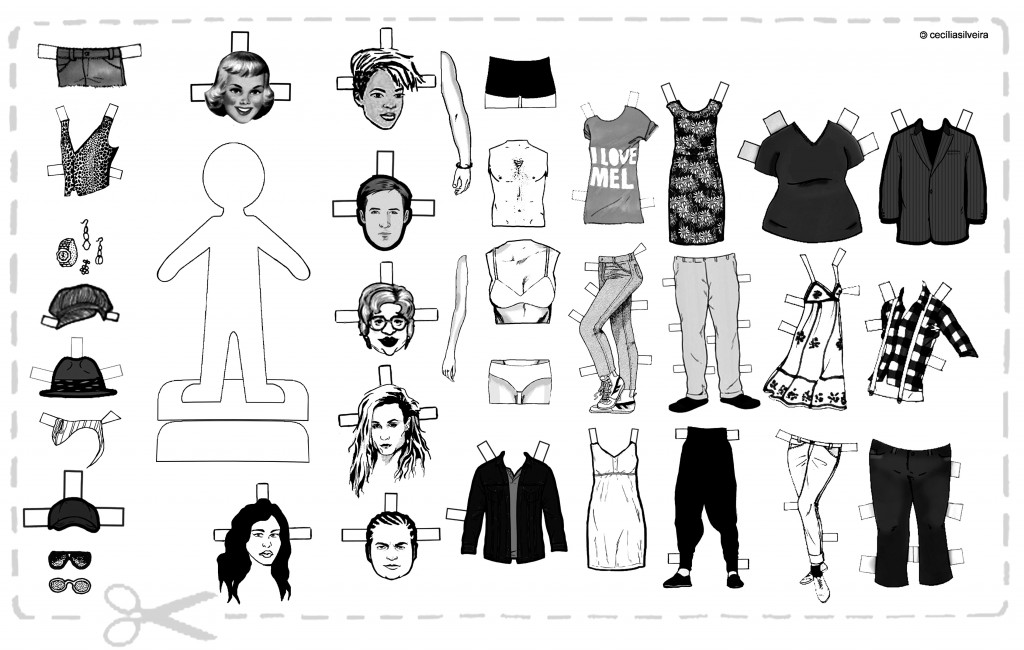instrumental
gênero, Instrumental, Lia Urbini, movimento feminista, número 1, Por um marxismo queer da periferia, teoria queer
Por um marxismo queer da periferia – Parte 2
No segundo encontro da série, os momentos da construção dos conceitos de “sexo” e “gênero”. Por Lia Urbini
Ao começar a dar forma para a revista Geni, optamos por defini-la como “uma revista sobre gênero, sexualidade e coisas afins”, acrescentando o desafio de fazer esses temas “darem pra qualquer um/a”. A motivação é geral, vale para todos os textos da publicação e, nesta seção específica, a Geni Instrumental, procuramos atritar produção teórica e demandas práticas da militância cotidiana que é viver a vida “diversa”.
Animada pela perspectiva explodida de teoria, ao longo dessas primeiras edições pretendo aproximar marxismos, feminismos, teoria queer e o ponto de vista da periferia, detalhando alguns dos conceitos fundamentais de cada um desses conjuntos de reflexões/experiências. Conceitos com os quais esbarramos no dia a dia (mas nem sempre em condições de olhá-los na cara e reconhecer seus corpos, sua matéria) e que reúnem em si um aglomerado de histórias que talvez nos ajudem a qualificar e amplificar diálogos em momentos como os que vivenciamos atualmente, nos quais leis são elaboradas e negligenciadas, direitos são reivindicados e violados, vontades e desejos são manifestados e silenciados… Momentos, enfim, que nos pedem movimento e posição.
“A universidade só vai iluminar o povo quando for incendiada”
A discussão sobre sexo, gênero e sexualidade começou a receber mais espaço nos materiais didáticos das escolas estatais do Brasil. Muito ainda pode e deve ser feito em relação a isso, mas já não comemoraríamos uma conquista? Talvez. Para mim, no entanto, isso apenas faz sentido se partirmos do pressuposto de que não é de uma instituição como a escola atual – conteudista, da “educação bancária”, que hierarquiza, domestica e silencia, que se pretende um simulacro da realidade na qual se aprende sobre o mundo se separando dele – que se espera o movimento inicial de transformação de uma realidade segregadora, machista, heteronormativa e homofóbica.
Parto do florescimento do debate sobre gênero, sexo e sexualidade nos livros didáticos por saber que, diferentemente de tantos outros temas que podem ser discutidos morna e burocraticamente nas escolas, estes já se configuram em ação assim que são anunciados. Incendeiam. Parece necessário, por esse motivo, tomar como ponto de partida a forma como esse debate se dá no ambiente escolar, para então saber quais contribuições teóricas mais aprofundadas podem ser apropriadas para avançar na discussão.
Pensemos especificamente no campo das ciências sociais, área que chefia a reflexão ao menos nas apostilas didáticas de ensino médio estatal (já que as escolas particulares não necessariamente tratam do assunto de maneira sistematizada, seguem mais os livros e apostilas do mercado, que raramente o contemplam). A conversa ali normalmente se inicia com a associação natureza-sexo/cultura-gênero. Mais ou menos assim: o sexo seria o dado biológico dos indivíduos (hormônios, genes, sistema nervoso, morfologia) e estaria relacionado ao campo da natureza. Já o gênero seria uma construção social e estaria relacionado ao campo da cultura (psicologia, relações sociais, sociologia). Haveria somente dois sexos e dois gêneros possíveis: homens e mulheres, masculino e feminino. O hermafroditismo e xs transgêneros entram como exceções à regra de um mundo bem mais definido.
Depois disso, diversos exemplos do que determinada cultura considera comportamentos tipicamente femininos ou masculinos são comparados, para que se relativize os atributos de gênero naturalizados para cada grupo (na Escócia os homens vestem saia, em tal lugar as mulheres se responsabilizam pela economia e os homens pelas danças; logo, os comportamentos e as características que designamos típicos de homens ou mulheres podem variar de lugar para lugar). E isso já é polêmico para muitxs alunxs e professorxs, que por vezes reproduzem a noção sexo-gênero-sexualidade como um bloco unívoco e binário (homem biologicamente falando – se portando como homem – e que gosta de mulher, e vice-versa) e se surpreendem com a possibilidade de desassociar sexo de gênero, ou de admitir que o gênero possa ser socialmente construído. Além de ser praticamente impossível falar de sexo e gênero sem falar de sexualidade, que muitas vezes se torna o elemento referencial para definição do sexo e do gênero. Nesse sentido, se interessar afetiva e sexualmente por homens é o que definiria você como mulher. Uma mulher que não se interesse por homens não seria “verdadeiramente” uma mulher, segundo essa lógica do senso comum. Ela se torna apenas lésbica, e não uma mulher lésbica, como se a sua sexualidade fosse uma espécie de outro gênero (uma variação entre homem e mulher, ou algo parecido).
Essa discussão, assim formulada, remonta ao paradigma europeu dos anos 1960, mais precisamente ao estágio da discussão a partir do Congresso Internacional de Psicanálise (Estocolmo, 1963) no qual se formulou o conceito de “identidade de gênero” no quadro da distinção biologia/cultura. Quais os problemas dessa concepção? O que se avançou nas discussões desde então? Proponho aqui uma livre apropriação de algumas referências estadunidenses para abrir questões, mais do que tentar respondê-las. Elas aprofundam questões de sexo e gênero de modo a nos fazer repensar esses conceitos dentro da atualidade da luta política. Entre elas, o artigo da filósofa Donna Haraway, intitulado “‘Gênero’ para um dicionário marxista”, pois ele traz um interessante histórico do sistema sexo/gênero; observações sobre o feminismo realizadas por Joan Scott, historiadora que escreveu A cidadã paradoxal; e inspirações trazidas de Judith Butler, em Problema de gênero.
Rompendo a dicotomia sexo-natureza/gênero-cultura
Nos parágrafos anteriores, trouxemos uma versão de definição de sexo e gênero. Mas as palavras possuem histórias, e definir conceitos implica também historicizá-los. E haveria um problema anterior: a própria história se apresenta muitas vezes ainda como par binário oposto à natureza. Assim, historicizar “gênero”, que estava associado à cultura, foi mais fácil do que historicizar “sexo”, associado à natureza. Como aponta Haraway:
“Apesar de importantes diferenças, todos os significados modernos de gênero se enraízam na observação de Simone de Beauvoir de que ‘não se nasce mulher [nos tornamos mulher]’ e nas condições sociais do pós-guerra que possibilitaram a construção das mulheres como um coletivo histórico, sujeito em processo. Gênero é um conceito desenvolvido para contestar a naturalização da diferença sexual em múltiplas arenas de luta. A teoria e a prática feminista em torno de gênero buscam explicar e transformar sistemas históricos de diferença sexual nos quais ‘homens’ e ‘mulheres’ são socialmente constituídos e posicionados em relações de hierarquia e antagonismo.” (p. 211, tradução do Cadernos Pagu, 2004.)
“Esta distinção era muito útil no combate aos determinismos biológicos pervasivos constantemente utilizados contra as feministas em lutas políticas urgentes a respeito das ‘diferenças sexuais’ nas escolas, nas editoras, nas clínicas e assim por diante. Fatalmente, nesse clima político limitado, aquelas primeiras críticas não historicizaram ou relativizaram culturalmente as categorias ‘passivas’ de sexo ou natureza. Assim, as formulações de uma identidade essencial como homem ou como mulher permaneceram analiticamente intocadas e politicamente perigosas. (…) A dificuldade principal era uma incapacidade de historicizar o sexo; como a natureza, o sexo funcionava analiticamente como matéria-prima ou material bruto para o trabalho da história.” (pag. 218, idem.)
O problema principal que se configura ao naturalizarmos o sexo é não considerarmos como sociais determinadas características que ainda vinculamos aos instintos, à genética e, de alguma maneira, a uma essência humana que poderia permanecer intocada, aceita. Pensemos no caso dxs transexuais, que nascem com determinado sexo biológico, mas não se identificam com o gênero que considera-se correspondente. As decisões de Estocolmo foram decisivas para legitimar as cirurgias de “readequação” entre sexo e gênero, partindo do pressuposto do desejo de correspondência entre gênero e sexo. No entanto, conceber o próprio sexo como construído culturalmente significa uma revisão de muitos modos de agir e pensar, questionando até mesmo esse desejo da adequação. Um número considerável de pesquisadorxs procura trabalhar com esse novo desafio.
Construção e desconstrução de identidades na luta política
A construção social da categoria política “mulheres”, como grupo de certa maneira homogêneo, teve uma explicação histórica e encontra nela os seus limites, já reconhecidos em algum grau desde sua gestação. Pois, afinal, os indivíduos são compostos por múltiplas identidades, sejam elas identidades atribuídas, reivindicadas, representadas… Joan Scott, em A cidadã paradoxal, lembra uma fala de Olympe de Gouges, “[nós, mulheres] só temos paradoxos para oferecer”. Trata-se aqui do que seria o dilema sem saída do feminismo: as mulheres seriam iguais aos homens ou diferentes deles? Haveria de um lado a necessidade de se afirmarem como grupo diferente dos homens para batalhar por políticas específicas (licença-maternidade e aborto, por exemplo) e, de outro, se afirmarem como grupo igual para conseguirem equiparação jurídica (como o sufrágio universal). É fácil notar, no momento em que apresentamos o debate nesses termos, os seus próprios limites. Basta citar o exemplo de muitos grupos sufragistas que não queriam misturar na discussão a luta pela abolição, se contentando em estabelecer a igualdade entre mulheres e homens brancos, em um primeiro momento, acreditando que, em momento mais favorável da correlação de forças, através do poder de voto, elas poderiam incorporar a luta abolicionista.
A insolubilidade do problema está no fato de não assumir a pluralidade da constituição do sujeito, fixando-se identidades únicas. Somos/estamos iguais e diferentes ao mesmo tempo. A contradição aqui deve ser trabalhada, e não anulada, ignorada. Este parece ser o desafio da política contemporânea, do sujeito político contemporâneo.
Unidade na multiplicidade
“Ser mulheres juntas não era suficiente. Éramos diferentes. Ser garotas gays juntas não era suficiente. Éramos diferentes. Ser negras juntas não era suficiente. Éramos diferentes. Ser mulheres negras juntas não era suficiente. Éramos diferentes. Ser negras sapatonas juntas não era suficiente. Éramos diferentes… Levou algum tempo para percebermos que nosso lugar era a própria casa da diferença e não a segurança de alguma diferença em particular.” (LORDE, Audre. Zami, a New Spelling of My Name. Trumansberg, NY, Crossing, 1982. Citado no referido artigo de Haraway, traduzido pelo Cadernos Pagu, p. 227.)
O questionamento relativo aos modos de se constituir um sujeito coletivo político fundamentado na multiplicidade e transitoriedade das identidades só pode ser respondido fazendo política. No entanto, pensando que, mesmo que mediado de alguma maneira, teorizar sobre o assunto é uma forma de se fazer política, podemos agora nos inspirar no Problema de gênero, da filósofa estadunidense Judith Butler, para instigar mais alguns questionamentos.
Nesse livro, especificamente falando sobre gênero, a autora questiona a necessidade de sempre se arranjarem soluções para problemas, no sentido de às vezes ser importante também ser e viver como um “problema”. Ela argumenta que “o discurso de identidade de gênero é intrínseco às ficções de coerência heterossexual e que o feminismo precisa aprender a produzir uma legitimidade narrativa para todo um conjunto de gêneros não coerentes”.
Importa ressaltar, aqui, que essa narrativa dos gêneros não coerentes não pode se restringir a uma elucubração discursiva. Caso contrário, repito, só mudam os nomes. Reutilizando o mesmo Drummond do meu artigo anterior para uma nova camada de sentidos:
Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo vasto mundo,
mais vasto é meu coração.