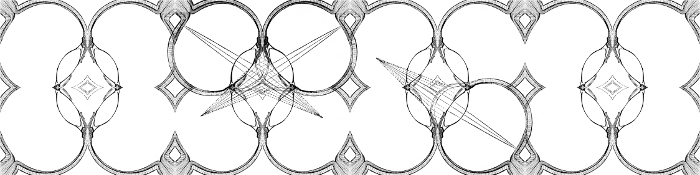coluna
Bruno O, coluna, Luiz Pimentel, No meio, número 2
NO MEIO | 03: No canto
“Enquanto espero, eu canto. Se desespero, eu canto.” Por Luiz Pimentel
Esta coluna se dedica a tentar ouvir mais vozes que foram atravessadas pelos temas da Geni.
Pretendo, em todas as edições, me aproximar textualmente de alguém, por meio de um convite de escrita.
A regra que guia minha parceria com x outrx autor/a da coluna é afetiva. Este é o corpo da coluna: escutar e escrever a partir de um movimento afetivo. É assim que vejo os corpos dos meus parceiros da revista se moverem. É assim que vejo as pessoas ao meu redor lidarem, em seus minúsculos cotidianos, com o que esses temas evocam.
***
Querido tio,
envio, anexo, com algumas alterações e revisões, o texto que você escreveu para a minha (nossa) coluna na Geni. Você pode ler outra vez e me confirmar se está de acordo com sua publicação?
Enquanto te lia, escutava o canto livre da Nara Leão.
Seu texto tem a força do amuleto. Parece feito da mesma matéria soprada pela música da Nara, o que significa que ele também pode servir para proteger.
Impressão de uma vida arranhando.
A sua.
Me comove muito, te lendo, um detalhe (modo de estar no mundo que reconheço em você): generosidade absurda de poder viver acolhendo a vida que se oferece, mesmo quando ela só faz recusar. Isso, pra mim, também é coragem.
O texto desta nova edição da Geni seria o do meu pai, mas ele desistiu depois de te ler. Pude assisti-lo lendo seu texto em casa, e como era bonito o silêncio que acontecia durante sua leitura. Ele acabou achando o texto dele muito fraco e ficou de escrever pra algum número seguinte.
Gostaria que ele empreendesse o mesmo exercício que o seu. Se narrar. Nos desvios, nos versos e reversos que essa perigosa ação implica. Na ressignificação… Isso já bastaria, não?
Quanto antes você me responder, melhor. O nosso prazo de entrega do texto final é no dia 10.
Como introdução da coluna, pensei em publicar este e-mail. Que acha?
Grande beijo,
Luiz
***
No pós-Segunda Guerra, as notícias que agitavam as mentes dos homens em Quixeramobim, no Ceará, diziam que os cafezais estavam construindo fortunas nas terras férteis do oeste paulista. Assim, em meados de 1948, meus pais e seus seis filhos embarcaram numa longa viagem de navio em busca de seu quinhão de fortuna.
A plantação de café demandava muitos braços: homens e mulheres em árduo trabalho. Já dez anos passados, o número dos filhos atingia uma dezena: homens feitos, os mais velhos, e a esperança de fortuna mais distante ainda.
1964, o ano em que completei cinco anos. Também fui levado para o campo ávido de braços fortes para ajudar na lida diária. Fui arrolado para pequenas tarefas: o trabalho mínimo era ter que levantar os ramos baixos e pesados do cafeeiro. Os braços roliços prometiam força e robustez, mas não revelaram o potencial esperado pelo pai.
No rastelar dos detritos, meu pai levava o entulho e eu junto, acrescido de uma praga: “Este diabo não é meu filho! É diferente dos outros irmãos. Isso é um manga mole!”.
Também nessa época coisas estranhas aconteceram comigo. Visto isso no presente, ainda causa estranheza. Aquele tipo débil mental, um tio materno recolhido em casa, em horas obscuras em postura exibida de assédio sexual, membro ereto em minhas mãos infantis e, como recompensa desviante, doces, pirulitos, suspiros coloridos em agrados.
Entre as demandas sobre a criança, a salvação veio nas ondas do rádio. Radinho a pilhas, entre ruídos de estática, uma doce canção, uma terna voz feminina. Nara Leão cantava: “Enquanto espero, eu canto, se desespero, eu canto”.
A partir daí, essa canção entrou em meu ser, incorporou-se em minha alma e aliviou meu espírito e, toda vez que a vida me aprontava uma falseta, valia-me da canção, eficaz amuleto, ainda ontem, segredo. Agora aliviado. Não mais preciso, sendo eternamente uma bela canção.
A família continuou crescendo, entre meninos e meninas. Sobreviveram 14 até a idade adulta. Sete homens e sete mulheres, cada qual com sua vivência particular nesse ninho de gente. Vindo para a capital em julho de 1966, sofrendo com o choque da imponência e imensidão da Estação da Luz e de um inverno até então desconhecido no quente interior paulista.
Os irmãos e irmãs mais velhos foram trabalhar nas indústrias. Tornaram-se operários-padrão, e não mais nos faltaram o pão e a moradia. Para ir à escola eu seguia uma rua muito comprida até o fim, na Vila Formosa. Lá chegando, parecia que era coberto de uma peste: todos se afastavam de mim (ou quase todos). Ficavam comigo outros igualmente desprezados: um gordão, um sonso. Na maior parte do tempo eu ficava sozinho mesmo, ouvindo música, real ou imaginária, não importava. Sempre presente a terna musa com a canção de ninar – já parte de mim!
Retornava pra casa sob pedradas da molecada. Houve uma vez que mamãe, na sua simplicidade, embrulhou um pedaço de rapadura para o lanche. Quando as outras crianças viram aquilo começaram um coro torturante: “Mariquinha, baianinha” etc. Nunca mais levei rapadura. Fui crescendo nesse caldo de zombaria e dificuldade em corresponder às expectativas do mundo em geral.
Sentia que, apesar de tudo, um menino forte me tonteava a imaginação. Não podia nomear isso, nem sabia como lidar, salvo uma fuga personificada na admiração (misto de fascínio e inveja) pelos astros de cinema, especialmente de Hollywood. Coisa platônica que se diluía no real, incômodo, mas permanente. Fixava um mistério da vida.
O meu primeiro namoro sério já se concretizou em casamento. Eu realmente gostava dela, não era mais uma fuga, era a verdade na qual eu acreditava. Entretanto, não tinha segurança em mim mesmo para ser o marido que ela esperava e merecia. Faltava a firmeza, mas não a paciência e a força de vontade para lutar.
Ainda hoje reconheço nela uma grande mulher, brava guerreira. Segurou diversas situações difíceis ao longo dos 13 anos de casamento: meu salário sempre baixo e defasado nas promoções de emprego, quando não inesperados e prolongados desempregos. Fui defendido de críticas externas frequentes que colocavam minha virilidade em xeque. E, para orgulho nosso, criamos um filho maravilhoso, um tesouro para olho algum achar defeito.
No fundo, eu sabia que o dia chegaria: enquanto espero, canto. Tendo esperado até meus 45 anos, idade madura, filho adolescente companheiro e confidente, para enfim sair daquela situação dolorosa e encerrar o ciclo do casamento, ponto final e vírgula.
Nesse período, desde 2004, uma nova investida em novidade de vida. Seria gay por consenso ou por falta de outra nomeação? Dia após dia, tateando incerto, até entrar em uma nova igreja: ministério inclusivo, onde LGBTTs louvam e falam em Deus com liberdade e alegria esperançosa. Lá foi onde conheci meu companheiro, em 2010. Um impacto forte na família, arredia a princípio. Com o tempo e a convivência, a situação vai se acomodando.
Vida nova, casa nova. Assim vivemos: juntamos nossas solidões e nossos destinos. Ele é soropositivo e me trouxe um novo aprendizado de vida. Uma força de vida que supera as dificuldades e transcende o comum cotidiano: seus horários rígidos de tomar medicação, dieta controlada, cuidados com a mente e o corpo e visitas regulares ao ambulatório médico.
Sobretudo, amo a minha família. Sei que meu pai, a seu modo, me amou também. Sou grato aos meus irmãos por terem me dado a oportunidade de estudar. Estimo a meus parentes e afins, mesmo distantes.
Tenho laços com famílias, crio laços com outras e novas famílias na comunidade religiosa. Olho a jornada até aqui e sou grato por cada dia e cada lição que tiro das situações vividas.
Renovo a fé nesse povo brasileiro, nesses jovens que hoje marcham pelas ruas e se manifestam ousadamente. E, mesmo tendo em vista o envelhecimento e a passagem da minha geração – mortes, doenças, solidão de uns e outros –, junto tudo isso ao som da mesma música, completa, com versos e reversos, numa ressignificação da vida:
“Enquanto espero, eu canto,
se desespero, eu canto
Se não há razão pra se cantar,
qual a razão pra se cantar?
Canto, canto, canto…”.
Leia outros textos de Luiz Pimentel e da coluna No Meio.