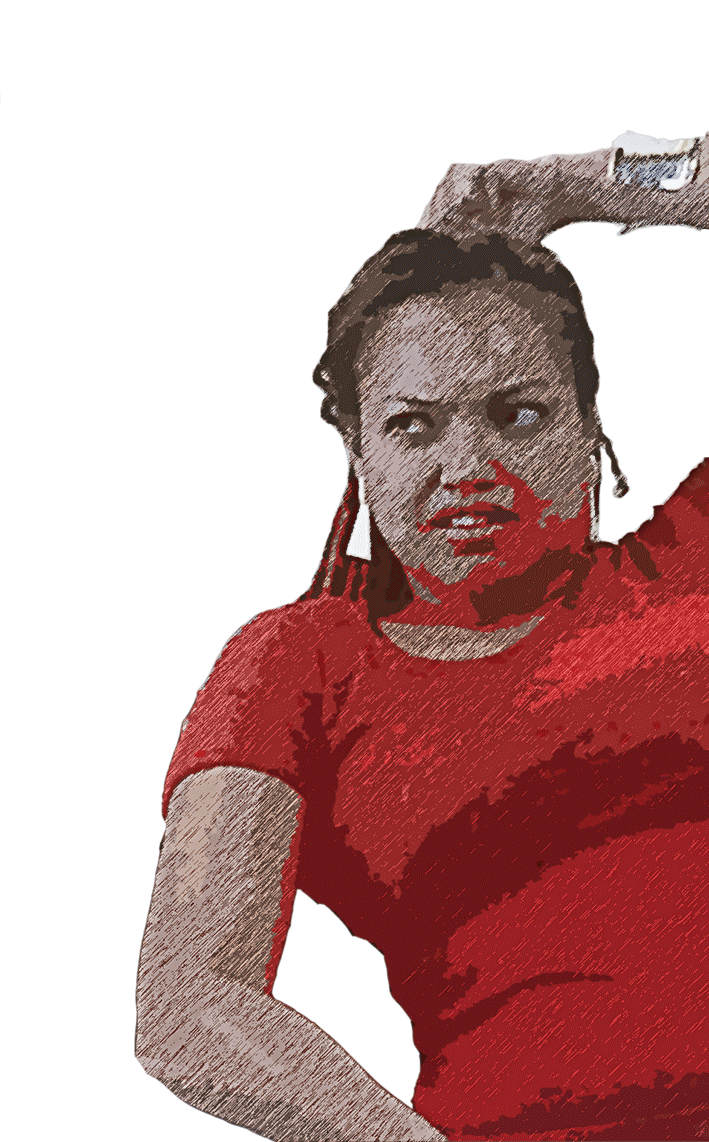entrevista
Alciana Paulino, Carolina Menegatti, entrevista, literatura, literatura negra, Marcos Visnadi, Mjiba, número 17, Tiago Kaphan
Jovens mulheres revolucionárias
O coletivo Mjiba completa dez anos de ação e transforma em livro a voz das mulheres negras periféricas. Por Alciana Paulino, Carolina Menegatti e Marcos Visnadi
Quando o coletivo começou, esse negócio de coletivo nem existia. Era um grupo de amigas que queria fazer algo. E elas fizeram. Num 8 de março, o sarau da Cooperifa, tradicional encontro de poetas na periferia da zona sul de São Paulo, foi dedicado exclusivamente para as poetas. Os boys ficaram de joelhos.
Uma nova geração, mulheres negras e periféricas que fizeram e fazem acontecer. Partindo do rolê hip hop sacaram que não havia muito espaço para as minas. Os microfones tinham mãos específicas e não eram femininas. Reuniram-se, iam trocar ideia no Parque do Ibirapuera, dessa primeira mobilização viram que a reunião vale muito. Contaram com as políticas públicas em seu caminho, o nome Mjiba vem de um livro da biblioteca pública, os eventos eram no CEU, os livros foram lançados por editais etc.
Entre zines, trocas e encontros descobriram a necessidade de mais e mais mobilização, mas onde? Na perifa, local de origem, onde moravam. O mote, o dia da mulher negra (latino-americana e caribenha), 25 de julho é um marco para o Mjiba. Foi quando realizaram o primeiro evento de mulher preta em 2004 e com a sanção da Lei 12.987, que institui nacionalmente o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, retomaram o coletivo depois de 5 anos de pausa para os projetos individuais, estudo, filhos, trabalho etc.
Há um ano trouxemos a Miriam Alves para um bate-bola, figura forte, porreta! Mulher negra, escritora, representante de uma geração que iniciou seus trabalhos na década de 1980. Queríamos saber da mulherada que nasceu nessa mesma época, o quê e com tem feito. No decorrer da entrevista vocês perceberão que é uma nova forma de reunir-se, de causar, de escrever e mudar. Perguntando para Elisângela e Elizandra, irmãs que conversaram conosco, se a mobilização delas devia algo à geração da Miriam. Não negaram a importância das anteriores, mas disseram que não queriam pegar o bastão das mais velhas. Para elas o feminismo pode ser mais simples, mais acessível.
Num bate-papo onde as histórias do coletivo são permeadas pelas trajetórias pessoais, Elizandra e Elisângela, numa sincronia massa, relatam a trajetória do Mjiba, das mulheres que se viram e se descobriram escritoras, produtoras de eventos, mulheres e negras.
***
Faz um ano que fazemos as edições temáticas e em novembro teremos o Mês da Consciência Negra e é o único tema que a gente repetiu.
Elizandra: Esse tema vocês têm que repetir mesmo [risos]! Repetir o ano inteiro!
Depois que decidimos repetir o tema, ficamos nos questionando: só vamos tematizar isso em novembro?
Elizandra: Nós estamos em um processo em que a lei 10.639 [lei federal que estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira em todas as escolas] completou mais de dez anos e ela não é implementada ainda. As escolas também deveriam trabalhar ao longo do ano, mas, já que não fazem, ao menos em novembro elas pensam.
Mas só em novembro? A minha agenda este mês está cheia, mas eu sou escritora e poeta o ano todo [risos]. Você aceita [os compromissos em novembro], porque senão não trabalha nenhum dia. Mas essa coisa de concentrar é importante, até para marcar. Ainda existem pessoas que não entendem o porquê do dia 20 de novembro, existe um trabalho ainda a ser feito.
É importante também forçar uma data, senão fica muito fácil passar batido.
Elizandra: O Mjiba em Ação é um evento em que a gente comemora e discute o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha. E esse ano fez dez anos que começamos o evento!
Vocês ficaram cinco anos sem fazer o evento, né? Por quê?
Elisângela: Por causa dos estudos, da questão profissional, cada uma indo para caminhos distintos… e as coisas não casavam, sabe? Há três anos deu uma desafogada, aí a gente voltou.
Elizandra: Começou porque a gente frequentava muito evento de hip-hop e rap, hoje frequentamos menos. A gente ficava meio incomodada, as mulheres só subiam no palco como backing vocals, ou auxiliando os caras, ou namoradas dos caras, e aquilo incomodava muito. Sempre havia várias mulheres assistindo, o público era muito feminino.
Por conta do incômodo começamos a nos reunir no [Parque do] Ibirapuera. “Ah, venham conversar com a gente!”.
Elisângela: A gente se reunia e cantava. Era um misto de mulheres, a maioria a gente conhecia dos eventos, das baladas.
Quando foi?
Elisângela: Por volta de 2003, 2004. A gente ficava trocando ideia. “Você conhecia tal pessoa? Você usava calça big?”. Levávamos fotos [risos]. Aí, numa dessas, a gente teve a ideia de fazer intervenções nesses espaços de hip-hop que já estavam consolidados e as pessoas toparam! Então resolvemos fazer um no Dia das Mulheres [Dia Internacional da Mulher, 8 de março].
O começo partiu de uma ação para o Dia das Mulheres, então?
Elizandra: Foi lá no Sarau da Cooperifa pro dia 8 de março. A gente fez na Galeria Olido [centro cultural na região central de São Paulo], que tinha o Central Acústica. Convidamos a Tula, a Tuc Mel, Lurdez da Luz. Era focado em mulheres, a maioria mulheres negras, mas não era focado só nisso. Então fizemos uma intervenção na Cooperifa, e até hoje rola muita crítica em relação a esse dia. Porque os homens não declamaram, só as mulheres. Lá na Cooperifa acharam que foi o dia mais radical, tanto que esse dia virou o “ajoelhaço” que é uma atividade que eles fazem no 8 de março ou próximo, na quarta-feira próxima ao 8 de março. Nesse dia os homens se ajoelham e pedem perdão. Virou isso [risos].
Elisângela: É… E o foco volta para o homem e não para as mulheres. Claro, a gente brinca e dá risada, mas é meio esquisito. No meio da manifestação disseram: “Ah, mas o Sarau é o ano todo com todo mundo junto!”. Isso foi meio que um racha.
E isso começou com o evento de vocês?
Elizandra: No começo a gente intitulava “Mulheres”. O Mjiba vem de um livro que eu li: o Zenzelê: uma carta para minha filha, da Nozipo Maraire, uma autora do Zimbábue. Lá tinha a história das Mjibas, que eram mulheres guerrilheiras que lutaram pela independência. Em 2001, eu fazia um fanzine e a Elisângela era minha patrocinadora [risos], porque na época eu era adolescente, estava no ensino médio. Enfim, eu fazia esse fanzine para dar visibilidade a personalidades negras, divulgar os eventos dos amigos. Quando li o livro, meus amigos pediram pra fazer um resumo, porque a gente colocava dicas de livros no fanzine.
Esse fanzine durou até 2005. Nós participávamos de uma rede que trocava fanzines por correspondência. Não é como hoje que dá para ir muito mais longe: nessa rede não tinha ninguém de fora do país. Tanto que a gente usava o selo social e não aumentava o fanzine para não aumentar o peso da carta [risos].
Foi nele que eu comecei a escrever poesias e mostrar. O Mjiba em Ação se iniciou em julho de 2004 com a Elisângela, a Thaís e eu, bem na época da construção do CEU Três Lagos [sigla para Centro Educacional Unificado que reúne centro cultural, esportivo e escolas]. Já tinhamos um grupo que se chamava Mulheres. Essa coisa de chamar de coletivo é mais recente, antes a gente falava que era um grupo de amigas.
Elisângela: Tinham meninas de várias regiões: ABC, centro. E a gente pensou: “Estamos fazendo um monte de coisa fora e aqui onde a gente mora não tem nada!”. Então a gente pensou em fazer um evento e começamos a bolar a ideia, como seria, quem a gente convidaria, com a estrutura do CEU. E foi um sucesso, tudo foi se casando!
Chamamos a Cindy Mendes, que participou do Antônia [filme de 2006, com direção de Tata Amaral] para auxiliar na apresentação, tinham amigos ajudando no dia do evento… Na época não tinha subsídio do CEU, água, fruta e café no camarim. Nós que fizemos tudo: uma amiga levou uma panela de carne-louca [risos], a gente comprou os pães, os copos descartáveis…
A ideia era que a apresentação fosse só de mulheres. Só mulher preta! Os meninos, ficavam só na parte técnica. Alguns queriam declamar poesia, e a Elizandra dizia, “Não, fio, é evento de mulher preta!”.Como a gente lia poesia no evento, tinham uns meninos que falavam: “mas a poesia é sobre mulher preta”. E a Elizandra era firme e falava que não! [risos].
Elizandra: Tinha de querer cantar, né. Teve amigo que não foi no primeiro evento, aí via as fotos, e já ia no segundo, já compreendia a ideia. A gente fez em 2004 e 2005. No segundo, a gente conseguiu levar a Ieda Rios, que cantava com o Thaíde, que era superimportante. Na parceria, não tinha grana pra nada. Foi muito da hora. Em 2006 eu entrei pra faculdade. Nesse corre do Mjiba a gente estava tentando entrar na faculdade, fazia cursinho… Mas era jovem, né [risos]. Ia nos shows da zona leste. A gente mapeou a cidade só indo em show de rap. E hoje tem a Agenda da Periferia, no Facebook tem uma lista de eventos. Na época não, você ia num show e ficava sabendo do outro, e aí ia.
A ideia era que a apresentação fosse só de mulheres. Só mulher preta! Os meninos, ficavam só na parte técnica. Alguns queriam declamar poesia, e a Elizandra dizia, “Não, fio, é evento de mulher preta!”
Uma das nossas ideias em entrevistar vocês foi porque na edição de novembro de 2013, entrevistamos a Míriam Alves, que falou do começo dos Cadernos Negros, e pensamos em ver outra geração de mulheres que se mobilizaram e começaram a escrever.
Acho que já temos uma terceira começando, que conta mais com as redes sociais para a divulgação. A gente queria saber se nessa trajetória vocês se referenciavam na geração anterior, que já tem uma produção nacional.
Elisângela: Em 2004 a gente não conhecia os Cadernos Negros. O sarau da Cooperifa começou em 2003, e em 2004 a gente já estava frequentando os saraus. Não que o hip-hop tenha enfraquecido, mas ao longo desses 10 anos a ideia de sarau ficou efervescente e chamou a atenção dos bairros. Antes, era o hip-hop. Agora é concomitante, mas a referência na época era o hip-hop. Em 2005, a gente conheceu os Cadernos Negros. Já tinha rolado a segunda edição do evento de mulheres. Quando eu participei, estava começando a escrever, mas a ideia era ter show de mina, a literatura não era tão forte assim.
Elizandra: Eu comecei na Cooperifa em 2004, com aquela timidez. “Sou seu HIV” [poema] eu fiz pra declamar no primeiro evento, e aí a gente convidou a Samantha [Pilar] e a Professora Lili. Eu não sei por que ela ainda não lançou livro, porque ela tem muita poesia. Ela mora em Itapecerica, eu a conheci na Cooperifa. Mas a ideia de literatura não era tão forte. A gente conheceu os Cadernos Negros depois, mas a referência era geracional mesmo, com os pares da época. Tava todo mundo aprendendo junto.
E a questão de gênero, porque não tinha espaço pras mulheres no hip-hop.
Elizandra: E essa coisa das mulheres negras de outras gerações: em 2004 eu participei do Seminário Nacional de Mulheres Negras. E era a Miriam Alves, as mulheres lideranças de movimentos, e elas tinham umas coisas entre elas, umas pendengas, e ficavam: “vamos passar o bastão para as mais novas”. A Elisângela começou a ir na Marcha Mundial das Mulheres. Uma coisa é ser politizada, outra é deixar simples pra que outras pessoas entendam a política que tem por trás. Compreender de forma simples, lembrar que a gente está num bairro de periferia. Não é dar mastigado, mas fazer com que minimamente se entenda a importância de ter mulheres negras no palco, de visibilizar. Aí ficou um vácuo de cinco anos, a gente foi estudar, fazer coisas. Nesse período, eu lancei meu primeiro livro, Punga, junto com o poeta Akins Kinte, que se ofereceu para declamar. Em 2007 eu lancei esse livro pelas Edições Toró – uma editora de periferia que, num período de quatro ou cinco anos, lançou quinze livros de autores dessa cena. A maioria era poesia, mas tinha conto também. Foi idealizada pelo Allan da Rosa, pelo Silvio Diogo e pelo Mateus Subverso.
Nesse período, entrei na faculdade, fiz jornalismo pelo Prouni no Mackenzie, o VAI [Valorização de Iniciativas culturais, edital da prefeitura de São Paulo] tinha começado, e a gente começou a pensar que queria visibilizar o trabalho de mulheres negras e gente convida pra fazer trabalho voluntário. Isso já era uma questão pra gente. Quando começou o Prouni, a gente pensava: a gente vai continuar fazendo evento, e as pessoas que vem geralmente eram amigas, achavam a ideia legal, mas começamos a nos questionar também que a gente valoriza mas aí é uma valorização só simbólica. Em 2003 ou 2004 o VAI começou, tanto que meu livro foi pelo VAI, a Edições Toró montou o projeto e o meu livro Punga saiu pelo VAI. Então a gente falou “ah, tem editais, a gente pode buscar outras coisas”. Escrevi o projeto e perguntei pras meninas se elas queriam voltar, elas toparam e em 2012 o projeto foi aprovado. A terceira edição [do Mjiba em Ação] foi bem mais incrementada.
Elisângela: Antes era o básico do básico, depois melhoramos, camarim mais aconchegante, dava pra gente convidar as pessoas com bandas…
Elizandra: E em 2012 a gente convidou a DJ Vivian Marques porque a gente queria uma DJ mulher. A parte da técnica sempre foi um dilema.
Elisângela:Tinha luz, não tinha mais aquela chiadeira, eu não entendia nada da parte técnica, mas ficava fazendo o trâmite com os músicos, perguntando se queria técnico, ia falar com o técnico do CEU, ficava fazendo essa intermediação.
Elizandra: Em 2012 a gente convidou novamente a Ieda Rios, dessa vez com chachê, e ela foi uma das primeiras a gravar hip-hop. A gente convidou a também Denna [Hill] e a Mc Sofia, que é uma Mc de 8 anos. As crianças que estavam lá adoraram. E eu pensei que gente tinha que incluir programação infantil. Em 2012 ficou essa inquietação da programação infantil. A gente tá falando de mulher negra, mas também tem que preparar as crianças. Quer resolver o mundo, né?
Elisângela: Nesse meio tempo eu casei, tive um filho…
Para garantir a presença das mulheres é necessário ter espaço pras crianças.
Elizandra: É, muitas não podem ir porque não têm com quem deixar os filhos, ou estão amamentando.
Você sentiu uma diferença na sua participação nesses eventos depois que você teve filho?
Elisângela: Sim, eu não conseguia. Eu estudava, trabalhava e era mãe, não dava. Em 2012, a gente fez um bate papo sobre mulheres negras em diferentes profissões. Chamamos a Luciane Barros, ex-boxeadora, e no bate-papo ela falou que, como tinha sido adotada por uma família branca, ela só foi perceber a questão racial na escola. E o boxe que fez ela fortalecer a identidade negra dela, foi bem legal.
Elizandra: O evento Mjiba em Ação, sempre tinha shows, bate-papo – porque a gente achava que tinha que ter uma proposta política junto com o entretenimento –, e a poesia. Mas sempre tinha o bate papo. Nos primeiros anos teve uma exposição de fotos e outra de poesias. A gente xerocou e colou nas paredes.
O público frequentava igualmente esses espaços (bate-papo, shows, exposições)?
Elizandra: O público é uma questão eterna. Em 2004, 2005 ninguém sabia quem éramos nós. Era gestão Marta [Suplicy, na prefeitura de São Paulo], tinha muita atividade e as pessoas iam, independente do que fosse. Em 2005 era gestão [José] Serra, nem água deram. Tinha o público dos frequentadores do CEU mesmo, os amigos, as pessoas dos saraus. Em 2004, eu participava do jornal Becos e Vielas pela ONG Papel Jornal: eram profissionais da Folha que iam dar essa oficina lá no Jardim Ângela. Eram as pessoas do curso, o público de hip-hop mesmo, mas do bairro sempre foi flutuante. Em 2012, teve a volta, já com o edital do programa VAI, e a gente percebeu a necessidade de pensar as crianças como público.
Elisângela: E ficou a questão do que fazer pra entreter essas criaturinhas, porque eles não ficam parados. E pensando em questão racial, não era só entreter, colocar um pula-pula lá e pronto. Então convidamos a Trupe Liuds, de palhaços negros que têm um trabalho com a questão racial. E também a contação de história da Kiusam, pras crianças foram essas duas atividades.
Elizandra: A Trupe Liuds fez uma esquete com o nome de Mjiba, que virou espetáculo deles agora, a Mjiba, a boneca guerreira. Fala da questão racial para as crianças, a questão do cabelo. E tem várias questões de gênero também no espetáculo: tem a menina, que fica em casa, e o menino, que vai pra rua. Foi quando a gente abriu a exceção para [a participação dos] homens. Não tem uma trupe de palhaças. E até hoje é muito difícil achar programação pra criança com esse viés, com conteúdo que não seja preconceituoso.
E quando o Mjiba começou a se enveredar pela publicação de livros?
Elizandra: Em 2012, teve o lançamento do meu livro, Águas da cabaça. É quando a gente começa a focar também em literatura, não só no evento. Eu já estava com o livro quase pronto, pensamos em publicá-lo. E em 2013 teve o Pretextos de mulheres negras. Acho que aí a gente consegue ter um produto de visibilizar mulheres negras, com a literatura negra feminina. São 20 autoras das periferias de São Paulo, uma moça da Costa Rica, a Queen Nzinga, que um amigo conheceu em Cuba, e a Tina Mucaleva, que eu conheci quando fui pra Moçambique como assessora de imprensa das Capulanas. São 20 autoras de São Paulo e essas duas de fora.
A gente queria que todas as autoras tivessem ido no Mjiba em Ação, que era pra aproveitar o fotógrafo do dia e fazer a foto. E a gente queria que a Chaia Dechen fotografasse, queríamos que fosse uma mulher. E foi bem legal: das 20 autoras de São Paulo, 17 foram, sucesso total. Foram as crianças, as mães das autoras, os maridos, e essas fotos ficaram belíssimas e resultaram na exposição que a gente fez este ano, intitulada “Mjiba, espalhando sementes”.
O resultado foi muito legal. A maioria das autoras que participa do livro acha que é um fardo muito pesado dizer que é poeta, foi todo um processo de convencimento. Elas diziam: “Por que eu? Eu não quero esse cargo pesado, é legal estar no livro, mas não sei se vou dar continuidade a isso”.
Como vocês chegaram nessas 20 mulheres?
Elizandra: Amigas e saraus. A maioria delas é importante nos saraus, mas não é visibilizada. Por exemplo, a Rose Dorea é a musa da Cooperifa, faz tudo lá, é quem mantém erguido. A Landy [Freitas], nome importante dentro desse cenário, a gente se conheceu por correspondência, na época dos fanzines. Eles também faziam fanzines, e atualmente ela é professora. Elis Regina veio das Edições Toró, as Capulanas são quatro e três delas publicaram. A Priscila Preta fez um trabalho com o Allan da Rosa de poesia erótica, eles têm um livro de poesia erótica, chama A calimba e a flauta: versos úmidos e tesos, pelas Edições Toró. A Carmen Faustino, que é do nosso coletivo, nós duas assinamos a organização do livro. A Luciana Dias, que é mestra em sociologia e também escreve poesias. Porque todo mundo é multi artista, faz um monte de coisa.
São mulheres que estão na ativa e, mesmo assim, tinham resistência em publicar e se definir como poetas?
Elizandra: Pra mim também foi um processo, eu comecei a dizer que era poeta depois de dois livros publicados. As pessoas falavam: “Ah, você é poeta”, e eu: “É, escrevo uns textos”. Porque é um território muito masculino, tem a coisa de escrever poesia negra, feminina e periférica, nesses rótulos todos eu estou incluída. Rótulos ou conceitos, depende do olhar de quem vê. Mas a maioria tem atuação artística ou no meio cultural.
Isso de passar um tempo pra assumir que é poeta também tem a ver com uma coisa de um lugar puro da literatura, o status elevado da poesia?
Elizandra: Também, mas tem textos que você escreve e que tem dificuldade de declamar, tem poesias que nos saraus a gente não declama. Se um cara solta uma poesia machista, você responde logo com a mais pesada. Falar de amor é coisa rara, porque, se eu falar de amor, vou ser a fragilzinha. Então você vai logo com pedradas. Tem a ver com esse processo machista mesmo, de ter que dizer: “Olha, a gente também escreve”. Quando você se assume, quebra vários tabus também.
E foi essa a ideia de fazer o Pretextos de mulheres negras. A gente só não conseguiu controlar na gráfica, mas o resto do processo é todo feito por mulheres negras, o projeto gráfico é da Nina Vieira, que é designer e participou do Manifesto Crespo, um coletivo de mulheres que usa a questão das tranças, fizeram o documentário Tecendo e trançando arte (2011) sobre as trançadeiras . A capa foi feita pela Renata Felinto, artista plástica. Tem também isso de referenciar as nossas, a gente fez uma homenagem pra Maria Tereza, poeta amiga nossa que faleceu em 2010, publicou pelas Edições Toró.
Vocês acham que, para vocês, a questão da raça para a autoestima vem depois da questão de gênero, por vocês terem uma trajetória de saraus e do hip-hop, onde já existem pessoas negras produzindo arte, poesia, literatura etc., mas há poucas mulheres?
Elizandra: Uma coisa que marcou muito [na edição do Pretextos de mulheres negras] foi essa questão de convidar as mulheres a publicar. Algumas se viam como poetas e já tinham um trabalho, outras não. E, para essas que não tinham, o fato de serem convidadas, de ter todo um cuidado com seus textos e com a sua imagem, foi muito forte. Uma das autoras, por exemplo, se via como mulher preta, mas não se enxergava e não se valorizava. Não reconhecia seus traços, seu cabelo, não integrava a família nos espaços que ela circulava. O depoimento dela marcou muita gente. Nós, do coletivo, já não tínhamos mais esse problema de autoestima e de se autorreconhecer como mulher preta, então a gente nem parava para pensar que isso ainda era uma questão para as mulheres com quem a gente convivia. Uma delas perguntou: “Por que eu? Por que meus textos? Tem tanta mulher boa por aí, por que me convidaram?”. Outra delas, que se reconheceu, se sentiu valorizada, quis soltar o cabelo… Coisas assim, que a gente pensa: “Nossa, ainda?!”. Mas é muito forte.
A coisa da maquiagem, por exemplo, que era secundária, mudou. Tem mulher que não passa batom vermelho porque o pai falou que é coisa de puta. Além disso, acentua mais o lábio, e a pessoa quer diminuir os traços [negros]… Não é consciente, mas você vai se protegendo. O livro ajudou nessas questões.
Elizandra: Sim. E ele tem essa pluralidade de vozes. São 22 vozes de mulheres negras, cada uma com uma profissão diferente; umas são mães; outras, não; tem lésbicas, tem de tudo. Tem umas que falam de amor, outras que falam de revolta, outras que falam de machismo. Nas mesas de literatura, a composição é sempre quatro homens e uma mulher, por exemplo. Ou é uma mesa só de mulheres, se não for só de homens. Aí, quando convidam a gente, já resolvem a cota da mulher e a cota da negra, porque já são os dois. Gente, agora tá aí: tem mais de 20, podem convidar [risos].
Como está sendo a circulação do livro?
Elizandra: A gente fez mil exemplares, que esgotaram em duas semanas. No lançamento, optamos por distribuir gratuitamente, porque pensamos em duas coisas: geralmente, em lançamento de livros na periferia, por mais conhecida que a pessoa seja… Cadernos Negros vende 100 exemplares, por mais que estejam 300 pessoas lá. Com a gente não ia ser diferente. Vieram 300 pessoas, mas vários homens, e eu não sei se essas pessoas estão dispostas a pagar pelo livro. Claro que alguns sempre vêm pelo livro, e querem levar, mas nem sempre é assim. Tanto que, depois, vários homens vieram falar: “Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso”.
A gente sabe o quanto é difícil pluralizar as vozes, principalmente fazendo evento, a gente não agrada todo mundo, então tem que pelo menos ser coerente com aquilo que a gente se propõe a fazer. E a nossa proposta é visibilizar as mulheres negras. Ter lançado o Terra fértil (2014), da Jenyffer Nascimento, é fruto disso, porque o Mjiba é coletivo, mas a gente também tem que fortalecer individualmente.
Tem gente que diz que literatura não tem cor nem sexo, não importa se ela é negra, gay, feminina: ela é boa ou é ruim. Vocês se deparam com esse debate?
Elizandra: Sempre tem esse debate, sendo [o Mjiba] literatura negra, feminina e periférica. Todos os rótulos pra academia rejeitar. Tanto que, quando estudam essa literatura na academia, ela é estudada na antropologia, não na análise dos textos. Ela é vista como um fenômeno social – e é mesmo –, mas não com valorização estética, como arte, dentro da literatura. É um ou outro trabalho, bem raro.
Esse é o debate que os saraus de periferia enfrentam, né? A importância como movimento, mas que não é visto como literatura. Quando começarem a perceber [o valor literário dessa escrita], não sei se a gente vai estar aqui ainda… É difícil. Temos aí um debate de classe, gênero e raça. “Ah, vocês podem fazer o que quiserem mas sua literatura não é tão boa assim.”
Elisângela: É essa coisa da teoria. Este é um movimento literário vivo, atual, está acontecendo. Quando a gente coloca nos conceitos que já existem, ele vai se enquadrar, sei lá, como poesia social. Mas ele está acontecendo, e vão usar bases antigas para analisar algo que ainda não acabou. Então não é um parâmetro real. Lembrando que a gente é um pais construído com bases desiguais, na base de preconceito. Essa literatura vai ser valorizada por um ou outro, mas eles nunca vão dar o braço a torcer. Vai demorar pra ser pedida na lista dos vestibulares.
Elizandra: É. Pediram Conceição Evaristo [no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais em 2007], e ela já escreve há um tempão, tem uma literatura que pra gente é importante, é uma das nossas referências. Cadernos Negros também. Mas isso em Minas, porque, em São Paulo, a gente viu como São Paulo é reacionária. E aí, pensando que a mulher negra está na base da sociedade, até disponibilizar o tempo para fazer literatura é uma questão. Eu percebo nesse cenário que os homens têm mais tempo. Não que eles tenham mais dinheiro, mas eu vejo a fala de alguns poetas cujas mulheres trabalham como professoras, enfermeiras, e eles são poetas. Então eles podem abrir mão de um emprego formal, porque a mulher vai sustentar a casa. Já a mulher negra não tem opção. Se eu tenho dinheiro guardado, não vai ser na literatura que eu vou investir. A gente tem menos possibilidade de investir.
Eu quero que não precise ter um Mjiba [pra editar livros de mulheres negras]. Que tenha, mas que não seja porque precisa, e sim um processo natural. Porque você tem que convencer, tem que ter todo um trabalho psicológico pra comprarem. Se fosse um homem [publicado], era diferente. Tem mulheres que pensam: “Ai, quem vai me ler?”.
Como foi o processo de formação de vocês como leitoras? Como essas questões da negritude, de gênero, da periferia foram entrando nesse processo?
Elizandra: Eu sempre gostei muito de ler. Você pega gibis, e eles começam a não ser suficientes, aí você vai pra banca ler Júlia e Sabrina, porque é livro que dá pra trocar: quando acaba de ler, você vai na banca e troca por outro. Eu não tinha um direcionamento de leitura. E aí, com o hip-hop, eu fui me perceber negra, periférica. A gente vem do interior da Bahia, onde a gente percebe alguma coisa de preconceito, mas não sabe dizer que é preconceito. Só sente um mal-estar. E aí, vindo pra São Paulo…
Você veio com quantos anos?
Elizandra: Eu tinha 12 e a Elizângela tinha 14. E com o hip-hop você percebe que tem um lado, que você é de uma classe social, é negra. Aí entram os parafusos. Foi uma descoberta junto com a música. As letras falavam de personalidades como o Malcom X, Negras Raízes [do escritor estadunidense Alex Haley], sempre tinha alguma coisa de livro, aí eu ia atrás. Eu ia pra biblioteca de Santo Amaro [bairro da zona sul de São Paulo], demorava uma hora pra chegar lá. Lá tinha uma coleção de livros de literatura africana, onde achei o Zenzele – Uma carta para a minha minha filha. Demorei anos pra comprar esse livro, porque ele está esgotado, então você só acha em sebo.
Elisângela: Eu fui ler ele bem mais tarde.
Elizandra: Os Cadernos Negros são também uma antologia de referência, principalmente por ser um movimento literário de literatura negra. Aí você pensa: eles estão aí há 36 anos e, se você pergunta na rua, as pessoas não conhecem. E você fala: “Não é possível que em 36 anos a sociedade não tenha visto isso”.
Eu leio muito as pessoas dos saraus, compro a maioria dos livros, então eu leio isso que a gente tá produzindo. Leio Conceição Evaristo, muita literatura afro-americana, gosto muito de romance e também de biografia. Adoro saber da vida dos outros [risos].
A gente também, por isso a gente faz entrevista!
Elisângela: A Elizandra tem essa paixão, mas, enquanto ela estava na escola e fugia à tarde pra biblioteca, eu estava trabalhando [risos]. E a minha história com literatura é até traumática. O primeiro livro que eu li foi um estupro mental, porque eu não lia na Bahia, a escola não incentivava a leitura. Eu ficava em parafuso. E eu lembro que aqui, onde eu completei o ensino médio, eu não entendia o que a professora estava falando. Eu li Aluísio Azevedo, eu li, reli, e não entendi. Eu fiquei muito traumatizada.
Fui realmente começar a ler depois que a gente passou a frequentar os eventos de rap e eu comecei a compreender as letras e a buscar os nomes das pessoas que estão lá, que são os nossos. E pra mim, Negras Raízes é a bíblia sagrada, é um marco, você se enxerga, quem eu sou, de onde eu venho, de ir buscar. Eu leio pouco, dentro do coletivo eu sou a que menos lê, mas frequento os saraus. Como eu não escrevo, eu sou a parte de trás, da produção, da gestão. Então eu não sei, acho que quem escreve tem mais sede de conhecer pra oxigenar o que você está fazendo. Na época do cursinho [pré-vestibular] eu lia muito mais. Até lembro de um amigo que falava: “Preta, mistura as leituras, não fica só lendo os clássicos do vestibular”. E eu: “Tá bom, tá certo”. E muito jornal. Eu lia muito Brasil de Fato. E [o jornalista] Caco Barcelos.
É bem emblemático isso que você falou do Aluísio Azevedo.
Elisângela: A Elizandra conseguiu ler. Eu falei: “Elizandra, não consigo passar do primeiro capítulo”. E voltava e não compreendia. Foi uma luta muito grande, eu preciso insistir, e ela: “Ó, a professora me falou isso, me deu esses toques, continua, você vai entender a primeira parte”. E eu fui, mas foi muito foda.
Elizandra: Tem 50 páginas descritivas até você chegar na história.
Elisângela: E, como eu sou mãe, eu não quero que o meu filho passe por isso. Ele já tem outra referência. Mesmo eu não lendo tanto quanto a Elizandra, ele já tem ela de referência. Ele já montou a biblioteca dele. Ele só tem 6 anos, não lê, mas pede: “Mãe, lê comigo”, então ele já não vai ter a dificuldade que a gente teve. Tem um outro referencial.
Elizandra: Até as brincadeiras! Outro dia ele estava lá na televisão com um microfone, fingindo que era um microfone, era uma escova, aí a gente perguntou: “O que você está fazendo?”, e ele: “Tô declamando uma poesia”. E eu: “Nossa!!!”.
Essa que é a importância dessa literatura, você se vê ali.
Elisângela: Está próximo, não é só ser espectador.
Elizandra: É recente, por exemplo, isso de o movimento negro puxar o Machado de Assis e lembrar que ele era negro.
Elisângela: Quando é muito bom, eles embranquecem.
Como é a relação de vocês com os movimentos sociais? Vocês participavam da Marcha Mundial das Mulheres?
Elizandra: Eu participava das reuniões.
Onde foi que não deu cola?
Elizandra: Eu acho que elas precisavam de pessoas que estivessem atuando diretamente e colaborando, e a gente foi bem nesse momento, pra conhecer, ver onde a poderia formar uma parceria. Foi o que abriu nossos olhos pra gente fortalecer o movimento sem atuar diretamente. Não precisamos ser da Marcha das Mulheres.
E tem outra coisa: as ações do Mjiba são pontuais. É um evento, o Mjiba em Ação, e tem a segunda etapa, que é pensar na literatura negra. Não é um grupo de estudos nem é um coletivo de artistas, é um coletivo de N profissões que se reúnem pra visibilizar o trabalho de mulheres negras. Participar dessas reuniões dos movimentos, pra gente seria mais um compromisso.
Além disso, a gente sempre fez questão que o Mjiba em Ação fosse lá na região do Grajaú. E aí, já teve crítica por ser na periferia: “Ai, mas por que que vocês fazem um evento tão longe?”. Quer dizer, a gente pode sair do Grajaú e vir pro centro, mas o inverso… Então essa questão da periferia pra gente é bem importante e precisa ser pensada. “Ah, não, faz no centro porque aí vem todo mundo.” Mas a pessoa não pensa que você tem que voltar pra casa. Marca aquelas reuniões que vão até 23h30, e o metrô fecha a meia-noite. Essas coisas vão desmotivando. As pessoas não percebem esse deslocamento, parece que todo mundo mora no centro. No centro todo mundo já faz.
E como é a formação de público do Mjiba em Ação?
Elizandra: É um desafio. Porque a gente não pode entregar o kit dos 500 anos de escravidão, dizer: “Olha, você é preto! Não se percebeu ainda? Você entra no mercado, você entra no shopping, todo mundo percebeu, menos você”. Então a gente quer fazer esses formatos, em que seja encantador falar da identidade negra. Porque é só desgraça, né? O debate agora é o genocídio da juventude negra, da população negra.
Então, por exemplo, a escolha da nossa data. O 8 de Março é importante, a gente está lá, não foi um dia que foi de graça. Mas o 25 de Julho também não foi! Não foi tão sanguinário quanto o 8 de Março, mas foi uma reunião de mulheres que fizeram uma luta por políticas públicas que até hoje é importante pra gente. Se a gente tem hoje ações afirmativas, o próprio Prouni, e várias iniciativas que fazem com que a população negra seja valorizada, isso é fruto de uma luta. Nada vem de mão beijada.
É tudo política. É importante essa política maior, que faz toda a mudança, mas também é importante essa política do cotidiano. A gente era um grupo de amigas, sempre se vendo, mas ganhou uma visibilidade que não esperava, e com ela vêm vários compromissos. A gente só queria fazer um livro, mas, querendo ou não você cumpre uma função social que não estava prevista. Aí falam: “Vocês são um coletivo, mas o que vocês fazem?”. Eu continuo trabalhando, sou jornalista. A gente não quer assumir essa obrigação, não dá pra fazer a função do governo. Quando você tem um propósito, que é visibilizar o trabalho de mulheres negras, você faz por prazer. Aí dizem: “Você tem que fazer isso sempre”. Se não tinha antes, por que agora a cobrança?! Essa cobrança acho que é muito ruim. Parabeniza o que já foi feito!
Elisângela: Tem que ter a leveza e o prazer.
Ontem à noite, a gente estava pensando nas perguntas e falando: “Nossa, dez anos de coletivo!”. Pra gente, com dois anos já está difícil.
Elisângela: Essa ideia de coletivo, foi ano passado que a gente assumiu. Veio depois do Pretextos [de mulheres negras], a gente pensou: “Vamos nos assumir como coletivo”. Eu nem sei onde estão as regras do que é um coletivo…
É só falar que é autogestionado! Vocês inventam [risos].
Elisângela: E a gente não tem dinheiro, mas tem os editais públicos. Este ano a gente pegou o VAI, são R$ 60 mil na mão de quatro pretinhas pra fazer livro. Isso é uma conquista do movimento civil, é uma conquista muito grande.
Elizandra: Com a vida que a gente tem, é a solução para o momento. Deixar o negócio vivo é muito foda. É prazeroso, é legal, mas tem um custo.
E o que vocês falariam para garotas, mulheres, independentemente da idade, que estão começando a se reunir para formar um grupo?
Elizandra: Tem que ter um ideal e seguir ele. Vai aparecer um monte de coisas. No nosso tem a coisa de visibilizar o trabalho de mulheres negras, pode ser que a gente esteja tomando um caminho de fortalecer a literatura feminina e negra, mas, independentemente disso, tem que ter um ideal, um objetivo.
Um amigo meu que diz que a palavra dele é “espelho”. Eu acho que a minha palavra é “fanzine”. Tudo o que eu estou fazendo, aprimorado ou não, é fanzine. Mesmo que seja artesanal, tem que estar bonito, e vai comunicar, visibilizar, é uma publicação.
E qual a sua palavra, Elisângela?
Elisângela: Acho que é “persistência”. Junta com diversas outras, mas, se eu não acreditasse que o nosso trabalho tem uma importância e de fato contribui, eu não estaria fazendo. E eu falo pras meninas: não quero que a gente perca a leveza, a visão sonhadora, a gente é e não é utópica, mas perder a leveza, perder a satisfação de fazer e estar junto não tem sentido. Então é isso, insistir mesmo.
Ilustração: Tiago Kaphan
Leia outras entrevistas da Geni.