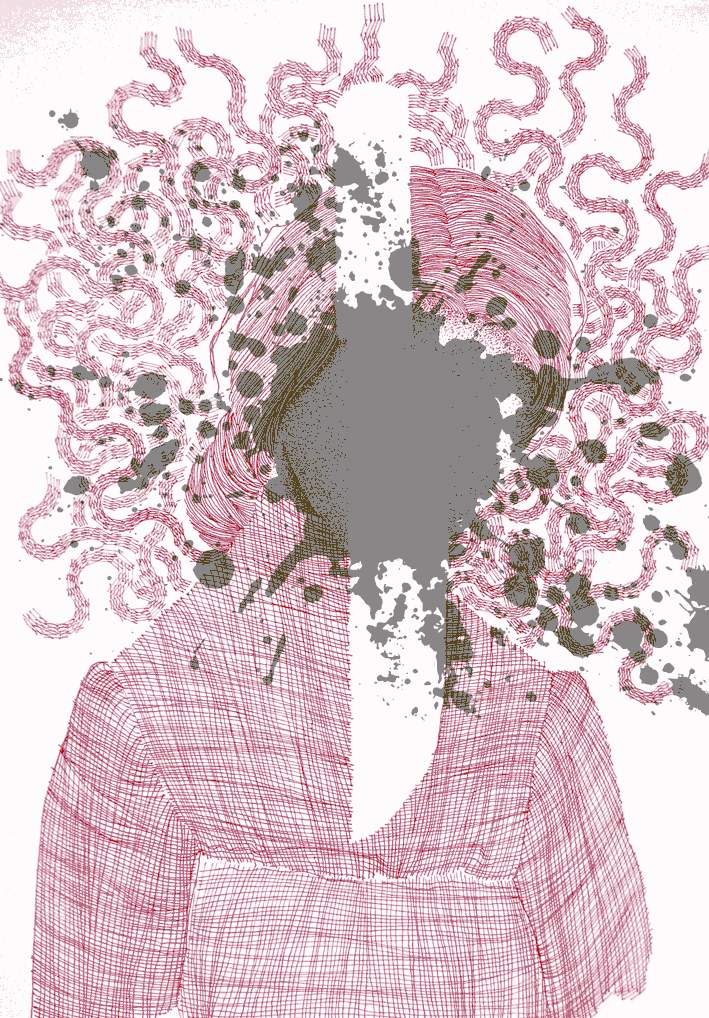corpo & política
Alien, capitalismo, Carrie, desviante, Diego Paleólogo Assunção, família, ficção científica, final girl, Gustavo Inafuku, Halloween, horror, Jurassic Park, monstro, mulher, normatividade, número 27, Os pássaros, Pânico, Psicose, terror
Cinema de terror e horror ao gênero
Breves apontamentos e considerações. Por Diego Paleólogo Assunção
Publicado em 17/12/2015
No âmbito dos hiperbólicos delírios estéticos do cinema de terror, as questões – ou os gritos, na adoção de uma terminologia mais adequada – de gênero e sexualidades emergem como que saídas do profundo poço da História. Heroínas, anti-heróis e monstros das mais variadas estirpes ameaçam o tecido da normalidade: essa plácida superfície sobre a qual deslizamos, raramente dedicando um olhar às escuridões que fervilham sob nossos pés.
Terror e erotismo ocupam sensíveis campos semânticos cujas fronteiras, nem sempre nítidas, são flexíveis e cambiáveis. De Norman Bates à assombração/maldição sexualmente transmissível de It Follows; dos pássaros de Hitchcock aos monstros jurássicos de Spielberg, passando pelo desconcertante Alien de Ridley Scott, o cinema de terror flerta com um erotismo fatal e uma pornografia duvidosa(1), e encharcam os espectadores em sangue (Carrie, de Brian De Palma e O Iluminado, de Stanley Kubrick, por exemplo, têm cenas nas quais o sangue em excesso funciona como um dispositivo para o horror). Para ingressarmos nesse universo precisamos de um criterioso passaporte: a certeza de que nossos mais íntimos pesadelos possam, eventualmente, se materializar…

O Iluminado, de Stanley Kubrick, 1979, aborda o tema de um pai perturbado que ameaça a integridade da própria família.
O cinema de terror, enquanto gênero, sempre foi relegado ao prefixo “sub”, tratado como produção inferior, forma na qual a amplitude da magia cinematográfica não aparece em toda a sua glória. Em geral, os afetos que as narrativas de terror fazem surgir nos espectadores são negativos: medo, asco, angústia, ansiedade, uma terrível sensação de que algo está errado, muito errado… Afetos que o século XX procurou erradicar da experiência sensível através de diversas formas de domesticação e controle dos corpos e desejos. O cinema de terror é, então, aquela narrativa marginal, excessiva, doentia e monstruosa que escapa às teias normativas da representação. Filmes que abordam as situações limítrofes do nosso cotidiano, os segredos trancafiados nos porões, os elementos sobrenaturais que pairam sobre e sob nosso imaginário: esqueletos, fantasmas, vampiros, bruxas, lobisomens, múmias, monstros informes, maldições, crianças, mulheres, enfim, tudo aquilo que não é absorvido pelo poder normalizador e que não pode ser alocado com precisão nas esferas da Vida e/ou da Morte; em resumo, a matéria-prima do terror é o que escapa, o que vaza, o excesso, o que não pode ser contido.
O cinema de terror convoca todas essas personagens desviantes e produz uma espécie de vingança contra um certo classicismo estético hegemônico. As narrativas audiovisuais que deslizam para esse obscuro campo costuram pedaços de diversos gêneros (melodrama, comédia, romance, documentário, pornografia…) e fabricam terríveis imagens que permanecem, durante décadas, gravadas em nossas mentes. Muitas vezes podemos observar as costuras aparentes, as cicatrizes , o sangue falso e os truques; muitas outras vezes podemos adivinhar a sequência dos acontecimentos, descobrir quem é o assassino antes do fim da narrativa e, ainda assim, torcer pelo final previsível: desejamos a morte do monstro e a sobrevivência da garota, a final girl.
Nem sempre isso nos é dado. Uma famosa citação do escritor estadunidense Stephen King alude para esse jogo perverso das narrativas de terror: “monstros são reais, e fantasmas são reais também. Eles vivem dentro de nós e às vezes eles vencem.”
Com diversos romances e contos adaptados para os meios audiovisuais, King refere-se aos monstros e fantasmas que habitam nossas mais íntimas experiências e fantasias – de acordo com o autor, esse é o verdadeiro terror – e nos situa na eterna e desequilibrada balança dos ideais de Bem e Mal: ou seja, às vezes o “normal”, o conhecido, o seguro, não consegue domesticar o “monstro”.
Lugar de celebração para alguns e frustração para outros, essas torções configuram os pontos nevrálgicos das inúmeras renovações do gênero – mas de qual gênero estamos falando agora? O que não pode ser domesticado nem nunca será?
O cinema de terror deve, em um primeiro momento, perguntar: o que tememos? Essa pergunta pode ser respondida, resumidamente, a partir da seguinte lógica: as pessoas temem o que elas não compreendem e o que elas não conhecem. Essa estrutura de pensamento evoca Sigmund Freud e o primoroso ensaio “O Inquietante” (Das Unheimliche, 1919), no qual o psicanalista austríaco investiga as dimensões do medo e do inconsciente, alocando no trauma do passado o lugar do terror no presente, ou seja, um evento traumático e recalcado que retorna de forma monstruosa.
Não tenho a intenção de colocar o cinema de terror no divã. Meu objetivo, nesse breve ensaio, é iluminar as relações entre o cinema de terror e sexualidades assombradas. De qual gênero estamos falando? Do terror, do feminino, masculinidades desviantes, tudo que ameaça e coloca em xeque a normatividade.
Quem responde, não raramente, à pergunta ‘o que tememos?’ é o homem branco, cis(2), heterossexual, classe média, urbano e eurocêntrico. O que ele teme? Resumidamente, tudo aquilo que escapa ao seu domínio: o que ele não conhece e o que ele não pode conquistar.

Bufallo Bill, o assassino de O Silêncio dos Inocentes, representado por Ted Levine. No filme, o assassino é um “desviante”sexual que deseja fazer uma roupa a partir da pele de mulheres.
Na tentativa de mapear esses pontos nodais de sangue e sexo, elegi algumas narrativas audiovisuais que considero sintomáticas e que ocupam lugar de destaque no imaginário popular do cinema de terror; filmes fortemente amarrados no tecido cultural do cinema de terror, que de uma forma ou de outra inventaram ou reinventaram o gênero, discutindo e/ou apontando para as relações de poder em constante desequilíbrio entre o normal e o desviante.
Assassinos em série: a mulher sobrevive
Psicose (1960)
A década de sessenta, principalmente nos Estados Unidos, é o limiar histórico de uma mudança. Não se trata apenas do fervilhante caldo político de lutas, confrontos, quebra de paradigmas e emergência das lutas das minorias por visibilidade e representatividade; é o momento no qual o cinema de terror investiga novas fórmulas e mapeia, em tramas complexas, as tensões sociais de um determinado período. Observamos o início de um lento desmoronar das estruturas de gênero sobre as quais a sexualidade descansava. Masculino e feminino deixam de ser categorias fixas, esferas radicalmente separadas, e as misturas em desequilíbrio fornecem a matéria para o terror; os corpos nos quais as oposições são tencionadas são monstruosos, violentos e ameaçam a plácida superfície da existência; corpos e comportamentos que escapam às regras, convocam a destruição, o caos, e perturbam a normatividade.
Em Psicose, insuspeito sucesso de Alfred Hitchcock de 1960, somos apresentados a Norman Bates, o solitário dono de um hotel de beira de estrada. Com maneirismos estranhos, Norman passa ao espectador algo de inquietante. Sabemos, passados quase sessenta anos da estreia do filme, que Bates é o assassino – ou algo próximo disso. Em uma das cenas, acompanhamos a irmã de Marion Crane (Janet Leigh, assassinada na clássica e célebre cena do chuveiro), Lila Crane (Vera Miles), entrando na sinistra mansão e, no porão, descobrindo Norma Bates, a mãe reclusa, sentada de costas para nós; ao encostar no ombro da velha senhora, a cadeira gira e Hitchcock revela ao público o duplo jogo perverso: a mãe está morta, embalsamada, sem olhos e com terríveis dentes expostos escarnecendo da plateia; Vera Miles grita, esbarra na lâmpada e entra Norman Bates, com vestido e peruca, empunhando uma imensa faca.
Enquanto espectadores, somos atingidos em dois lugares distintos: simultaneamente descobrimos a mãe morta e somos atacados por uma estranha persona cujo gênero, em um primeiro instante, não decodificamos. É no momento do choque e da confusão que percebemos tratar-se de Norman, travestido da própria mãe.
Segundo Linda Williams, nos filmes de terror os monstros e assassinos que as mulheres encontram são expressões hiperbólicas de características e traços psíquicos das personagens. Marion Crane é assassinada no chuveiro, nua, em uma das mais perturbadoras cenas do cinema estadunidense, convocando morte e erotismo para o mesmo campo. Marion Crane é punida em diversas instâncias: por desafiar a sociedade patriarcal, retroalimentada pelo capitalismo, ao roubar o dinheiro de um rico cliente que a assediava, Mr. Cassidy, em um discurso no qual sexo, capitalismo e relações de poder se desvelam em suas formas mais cruas; é punida, em última instância, por ser protagonista de desejos sexuais. Quem a mata é a ambígua persona de Norman Bates, que conjuga repressão, frustração, moralismo e, obviamente, psicose; um homem que não consegue se encaixar na dinâmica heteronormativa.
De acordo com a explicação de um psicólogo, no final do filme, quem comete os crimes é a mãe – ou a parte da mente de Norman que representa a mãe e se impõe sobre o lado masculino. As camadas são complexas e intrincadas.
A mulher, em Psicose, aparece em três vertentes de um mesmo lócus: mãe, amante, irmã. Cada uma incorpora características comumente atribuídas aos estereótipos da mulher: a mãe controladora e repressora; a amante erotizada e capaz de ações que escapam ao domínio da normatividade (sexo, roubo, ativar o desejo nos homens, etc); a irmã sensível e racional, na qual as características da mãe e da amante encontram-se em equilíbrio; ela é quem sobrevive enquanto os excessos são exterminados e/ou contidos. No caso de Psicose, a torção da narrativa pode ser observada na mãe/mulher que toma o corpo do filho/homem; Norma Bates vence no final e se instala definitivamente no corpo do filho, provocando uma inquietante convergência entre masculino e feminino. Hitchcock alerta para o potencial transgressor do feminino.
Psicose marca uma nova fórmula do terror, o thriller psicológico mediado pelo suspense; são narrativas que comportam intensa carga melodramática e borram as fronteiras das sexualidades normativas; o filme de Hitchcock introduz também o tema da família disfuncional – relações atravessadas por excessos patológicos que explodem em violência física, assassinatos e cenas que borram as fronteiras entre terror e erotismo… Nesse sentido, Halloween, Sexta-feira 13 e Pânico são os filhos lógicos de Psicose.(3)
Em Halloween (1978), de John Carpenter, acompanhamos uma tensa e interminável perseguição entre irmãos separados; Michael Myers, aos sete anos, esfaqueia a irmã mais velha após um interlúdio sexual; o menino é internado e, após 15 anos, foge do manicômio para perseguir a irmã sobrevivente. A atividade sexual, esse gesto confiscado e esvaziado pela família(4), parece ser o dispositivo que faz funcionar a maquinaria da violência persecutória. Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) é a final girl, que sobrevive fugindo, se escondendo, escapando de todas as formas da imensa faca de Meyers, o monstruoso irmão que incorpora de forma hiperbólica os abusos e perseguições de uma sociedade machista; Myers é o monstro esvaziado de humanidade, cujo único objetivo é perseguir e matar. A imensa faca, sempre em riste, é a onipresença do phallus.
Pânico, de Wes Craven, 1996, é uma reinvenção do gênero. Situado em um comum colégio estadunidense, o filme carregado de metalinguagem disseca e desconstrói as fórmulas cristalizadas do cinema de terror. O personagem obcecado, Randy Meeks (Jamie Kennedy), chega a enumerar as regras para morrer: sexo e drogas, investigar um ruído do lado de fora e dizer “Volto já”. Wes Craven segue e burla as regras. A dupla de assassinos, apaixonados demais por cinema de terror, deseja reproduzir um filme de terror na realidade.

Neve Campbell como Sidney Prescott, a final girl de Pânico; a mulher que tem que sobreviver de forma violenta em um ambiente hegemonicamente machista e opressor…
No fundo de Pânico, a motivação dos assassinos passa pela destruição da família tradicional. O assassino principal deseja se vingar de um caso extraconjugal que provocou a dissolução de seu núcleo familiar. A destruição da família normativa não pode ser suportada pelo homem e ele rompe, tornando-se um mascarado assassino psicótico que persegue e culpa, em última instância, a mulher; o objetivo é a vingança contra o gênero feminino.
Existe, também, uma silenciosa tensão homoerótica entre os dois assassinos. No final, para simular uma versão para a polícia, os dois se esfaqueiam na cozinha em uma cena que remete às violentas expressões de afetividade entre dois homens, reprimidas e negadas pela sociedade.
A extrapolação dessa tensa relação entre sexo e violência, permissividade e repressão pode ser encontrada no recente It Follows, de 2014, dirigido por David Robert Mitchell. Na narrativa, uma menina, após ter relações sexuais com um rapaz, encontra-se ‘contaminada’ por uma assombração visível apenas para ela; o fantasma sexualmente transmissível persegue sua vítima até exterminá-la através de uma morte excessivamente violenta.
Sem nome, sem corpo e sem origem, o fantasma de It Follows é produto de uma sociedade na qual o sexo é tratado de forma explícita e violenta, porém sem conteúdo; discursivamente reprimido, explode os corpos desejantes e, de diversas formas, volta-se contra esse mesmo corpo. It Follows é um terrível conto moralista de precaução em uma sociedade que perde, sistematicamente, suas próprias narrativas e identidades. Em resumo, o diretor aponta que nossa definição ocidental é atravessada por violências explícitas e sexualidades veladas.
Monstros: excesso e ausência(5)
Os Pássaros (1963)
Três anos depois de Psicose, Alfred Hitchcock leva aos cinemas a adaptação do conto Os Pássaros, da escritora britânica Daphne du Maurier. Sob alguns aspectos, Hitchcock recupera o estranho e inquietante subtexto de Psicose, um psicodrama sexual que alerta para as desequilibradas relações de poder entre homem e mulher.

Tippi Hedren convoca a violência apocalíptica dos pássaros ao recusar sua submissão e engendrar novos possíveis escapes para a mulher.
Em Os Pássaros (1963), Melanie Daniels (Tippi Hedren) segue para a pequena Bodega Bay com a intenção de levar para Mitch Brenner (Rod Taylor) um par de ‘lovebirds’(6), para concluir (ou dar continuidade) um jogo de flertes iniciado em uma loja de pássaros, em São Francisco, no qual os papéis sociais e identidades são divertidamente questionados.
A chegada de Melanie Daniels coincide com uma série de bizarros ataques de pássaros contra os moradores da pequena cidade. Os pássaros atacam com violência, mirando o rosto e os olhos; ataques cujo objetivo são os órgãos que, de acordo com Freud, correspondem ao simbolismo do complexo de castração.
Em determinado momento do filme, no ataque mais violento, as personagens estão em um café e os pássaros atacam o centro da cidade, provocando o caos. Melanie Daniels volta-se para o interior do café e todas as mulheres estão em um corredor, uma se vira, acusando-a:
– Eu acho que você é a causa de tudo isso! Eu acho que você é má! Má!
Essa acusação desloca, de certa maneira, o eixo do filme: é possível que tal aberração da natureza – os pássaros atacando– esteja acontecendo porque Melanie Daniels inverteu a ordem esperada do jogo de sedução, quando foi ao encontro de Mitch Brenner; ela é a mulher que não aceita as imposições cristalizadas de um mundo machista. O romance entre os dois, se há algum, é diluído ou desconstruído e existe até a leitura de um romance reprimido entre Melanie e a professora Annie Hayworht.
Como aponta Linda Williams no artigo ‘When the Woman Looks’, o olhar da mulher – a tomada de um posicionamento, empoderamento, se quisermos – é, em geral, recompensado com terror. O cinema de terror condena e recusa qualquer expressão de desejo expresso e inscrito no corpo da mulher. Toda vez que a mulher desafia e desarticula o lugar de submissão, o tecido social encontra-se terrivelmente ameaçado.
Hitchcock questiona os papéis sociais, culturais, econômicos, as divisões simbólicas entre homem e mulher, masculino e feminino. Essa dicotomia binária é evidente quando Cathy, filha de Mitch, pergunta para Melanie Daniels sobre os pássaros que a menina ganhou de aniversário:
– É um macho e uma fêmea? Não sei dizer qual é qual.

Tippi Hedren após ser atacada por pássaros; a força de uma masculinidade simbólica exige que ela deixe Bodega Bay.
Se em Os Pássaros observamos esse complexo jogo entre uma animalidade destruidora ativada por uma tensão sexual – o que está em questão, no caso, é o moralismo, a manutenção das regras e condutas, do binarismo e das relações de poder entre homem e mulher. Alien, de Ridley Scott, de 1979, introduz um complexo monstro que desarticula as oposições homem/mulher, masculino/feminino. O animal ósseo que se acopla ao rosto de um dos tripulantes da nave Nostromo pode ser lido como um delírio estético do imaginário da vagina dentada. A criatura, também, faz do tripulante Kane (John Hurt) o útero para seu monstruoso filho. A própria nave, como indica David J. Skall, é uterina.
Em Alien, a casa assombrada flutua na terrível escuridão do espaço. O núcleo familiar não existe mais – a nova família é composta pelos sete tripulantes em suas relações de afeto e trabalho, cancelando os laços sanguíneos. Ao aterrissarem em um estranho planeta para investigar um pedido de socorro, há o ataque da criatura óssea aracnídea e o caos se instala no seguro interior da nave-casa. Cabe à sobrevivente Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, combater o monstro.
Alien é uma delirante (e espacial) revisão das clássicas narrativas góticas do século XVIII e XIX. A casa assombrada, o monstro, a heroína, todas as estruturas ganham novas tintas – mais intensas e excessivas, uma nova cartografia do horror: nesse novo mapa, o abjeto e a destruição do corpo humano são a tônica da narrativa, assim como a corrupção e destruição da alma e da moral no século XIX formavam a base dos romances góticos. A mudança sintomática da experiência do corpo pode ser sentida em filmes do mesmo período, como Carrie, 1976, Halloween, 1978, e A Hora do Pesadelo, 1984. De acordo com Judith Halberstam em Skin Shows, os monstros e suas monstruosidades metaforizam oposições tencionadas no e do corpo – masculino/feminino, aristocracia burguesia/proletariado etc.
Alien é uma criatura que possibilita diversas leituras, sem um enquadramento específico, uma resistência à normatividade; isso, sob muitos aspectos, a torna queer.
O monstro fecunda o corpo de um homem. Essa ideia é perturbadora: a gravidez monstruosa é domínio do feminino (O Bebê de Rosemary, por exemplo), a ameaça do corpo fértil que pode gerar um monstro. Ao inverter essa lógica, Ridley Scott aponta, sutilmente, que seu pequeno monstro não distingue gênero e se acopla ao que estiver disponível – corpos falantes que se reconhecem como corpos falantes(7).

Tripulante Kane morre no parto do fálico alien; esse monstro irá perseguir Sigourney Weaver por mais três filmes…
Não se trata apenas de uma luta pela sobrevivência. A criatura pode, por um lado, ser uma fêmea e desterritorializar o corpo humano ao transformar qualquer corpo em um útero – mas essa lógica, me parece, ocupa um lugar masculinizante e colonizador de reprodução. É nesse sentido que prefiro eleger Ripley como a mulher que escapa ao destino de servir como reprodutora, tanto de um lado quanto de outro; se, nos jogos de reterritorializações dos corpos, dar à luz significa a morte, Ripley recusa esse agenciamento.
A sobrevivência de Ripley, em Alien, transversa diversas questões. Obviamente, trata-se de uma mulher tentando sobreviver em um campo masculino, masculinizado e, acima de tudo, masculinizante. Mas algumas coisas devem ser levadas em consideração. O monstro, o terror, é a tecnologia masculinizante.

Sigourney Weaver como Ellen Ripley: o corpo recusa o olhar masculino e as tecnologias masculinizantes.
Em Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993), observamos uma outra situação. Dinossauros fabricados em laboratórios (um delírio cientificista de fazer surgir no presente o passado), são mantidos em uma ilha na Costa Rica e exibidos como atrações de um parque de diversões no melhor estilo Disney. Para a primeira viagem, o excêntrico dono do parque, o milionário John Hammond, convida um seleto grupo: seus dois netos, três cientistas e um advogado. Obviamente, tudo escapa ao controle e os dinossauros passam a caçar os humanos.
O que está em jogo no filme de Spielberg é uma luta antiga, atualizada a partir das inovações tecnológicas e dos avanços da genética: humano (ou o que resta da nossa tão celebrada humanidade) versus fabricações monstruosas. Essa família monstruosa – velociraptors, tiranossauros – ameaça a tessitura da família tradicional. Mesmo rompida, desunida e divorciada, a família tradicional deve se unir para combater (no caso do filme, apenas fugir) essa nova/outra família monstruosa.
E a monstruosidade – uma certa beleza convulsiva, diriam os surrealistas – não se resume aos dinossauros. No decorrer do filme aprendemos que todos os dinossauros na ilha são fêmeas. Os cientistas assim as “fizeram” para controlar e impedir a reprodução. Em determinado momento, Allan Grant (Sam Neil) e as crianças (Joseph Mazello e Ariana Richards) se deparam com ovos chocados. Intrigado, o paleontólogo repete as palavras do matemático e teorista do caos, Ian Malcom (um soturno e sarcástico Jeff Goldblum): a vida encontra uma maneira.
Somos contemplados com a teoria de que os cientistas usaram cadeias genéticas de rãs africanas que, em períodos de crise populacional (excesso de fêmeas, pouca reprodução), trocam de sexo para a manutenção da espécie. A ideia é que os dinossauros estão realizando o mesmo processo.
Retornamos, então, ao medo fundamental sob as camadas de representação de Jurassic Park – que possui um subtexto feminista na figura da paleobotânica Ellie Sattler (Laura Dern): o medo de novas configurações e arranjos de sexualidades; as novas famílias (monstruosas sob o olhar da normatividade) comportam novas e outras formas de gerar e produzir continuidades. Há também a ansiedade em relação a uma comunidade majoritariamente composta por mulheres ser capaz de se autogerir sem a necessidade da presença do homem. Essa marcação ocorre em um breve diálogo:
Ian Malcolm: Deus cria os dinossauros. Deus destrói os dinossauros. Deus cria o homem. O homem destrói Deus. O homem cria dinossauros.
Ellie Sattler: Os dinossauros comem o homem… A Mulher herda a terra.
Carrie: apontamentos finais
A sequência inicial de Carrie (Brian De Palma, 1976), dá o tom da narrativa: a menstruação de Carrie White é o disparador do processo de destruição das estruturas simbólicas e seguras de um cotidiano aparentemente normal e plácido, no qual encontramos a escola, a casa (a família) e as paixões adolescentes.

Sissy Spacek como Carrie White; a adolescente é a última vítima de uma sociedade na qual o culto à beleza torna-se uma lógica de inclusão e exclusão; todas as estruturas de poder oprimem e produzem corpos desviantes que exigem formas de escape.
Slavoj Zizek escreve, no prefácio do livro The Plague of Fantasies, que uma atitude inesperada de alguém que conhecemos transforma o familiar em desconhecido, coloca em risco nossa percepção e desorganiza nosso mapa cognitivo. Em Carrie, as monstruosidades encontram-se dissolvidas e disseminadas em todos os campos. Não raramente, o cinema de horror opera no registro da subversão e toma o familiar em monstruoso. Zizek evoca a figura do médico austríaco Josef Fritzl(8) que
(…) de um bondoso e educado colega, de repente transformou-se em um vizinho monstruoso – para grande surpresa das pessoas que o encontravam cotidianamente e simplesmente não puderam acreditar que ele [Josef] era a mesma pessoa (ZIZEK, 2008, pág. VII).
A eterna vítima (a pobre garota desajeitada, feia, filha de uma mulher fanática) torna-se monstro através de microfissuras e micro-gestos que abalam a familiaridade do nosso mapa: a menstruação, o ‘errar o nome’, o confronto com a mãe para ir ao baile… Essas pequenas e cotidianas atitudes desestabilizam, pouco a pouco, a organização do nosso mapa de sensibilidades e, preenchendo até as fronteiras nossa capacidade de contenção, testam nossa capacidade de permanecermos não monstros. Por outro lado, o capitalismo enquanto sistema opera, em nossos corpos, restrições, opressões, exclusões, sufocamentos, e raramente oferece uma saída para o excesso.
O que descansa no fundo do poço ou debaixo da cama são as perturbações simbólicas da sociedade ocidental – as doenças não proclamadas, os segredos não revelados. A partir da década de 60, quando as rachaduras tornam-se visíveis, a família torna-se não apenas a guardiã de segredos terríveis como também a máquina que os produz. As falhas, as quebras, os sonhos não realizados, os fetiches, as traições… Retornam em fantasias exageradas e destroem, em um processo de autodestruição, as estruturas que as fabricaram.
A normatividade é uma máquina incansável que não cessa de capturar corpos, imagens, sentidos, narrativas, discursos, práticas, lutas e domesticá-las. Estamos expostos a essa máquina, que age de forma insidiosa – por vezes evidente e estrondosa, por vezes silenciosa e escondida. É urgente escapar, produzir linhas de fuga, desfazer o corpo, confundir, arruinar, falhar; Carrie é um alerta para esse regime: aqueles que são tratados como monstros suportam até um limite. Quando todas as marcas são cruzadas, a resposta costuma ser apocalíptica e extremamente violenta.
Há algumas linhas invisíveis que unem as diversas formas do Mal no cinema de terror. Seja um monstro costurado a partir de pedaços de cadáveres, um vampiro saído das profundezas da Transilvânia, uma criatura espacial, o dono de um hotel de beira de estrada ou uma adolescente estranha com poderes telecinéticos; o cinema de terror faz desfilar uma incansável parada de personagens problemáticos, limítrofes, monstruosos, animalescos, bestiais; personagens que provocam asco, raiva, medo e, não raramente, o desejo de que a ameaça seja exterminada.
O que o terror ameaça – seja em sua forma ficcional ou em sua cruel forma real – é a fixidez da normalidade E faz soar um alerta: as tecnologias do normal produzem monstros, nossos monstros, que emergem de suas terríveis escuridões para nos condenar, arruinando uma suposta paz produzida a partir de terrores inomináveis…
NOTAS
(1) Impossível não lembrarmos de David Cronenberg e seus trabalhos iniciais, como Shivers (Calafrios) e Rabid: enraivecida na fúria do sexo, os dois da década de 70.
(2) “Cis” é abreviação do termo que designa o indivíduo/sujeito cisgênero, ou seja, indivíduo cuja identidade sexual corresponde ao corpo do nascimento.
(3) A terminologia para esse tipo de filme é ‘slasher movie’, nos quais as facadas são explícitas e o sangue abunda.
(4) Como aponta Michel Foucaul no primeiro volume da História da Sexualidade.
(5) O Bebê de Rosemary (Roman Polanski, 1968) e O Exorcista (William Friedkin, 1973) poderiam ocupar esses lugares como filmes que abordam a gravidez monstruosa e o corpo da mulher como canal para o Mal, marcando o final da década de 60 e início dos anos 70. A escolha por Hitchcock é enfatizar as contribuições que o diretor forneceu para o cinema de terror e sublinhar esses filmes como narrativas que cambiaram o eixo do gênero. Tanto O Bebê de Rosemary quanto O Exorcista são posteriores a Psicose e Os Pássaros. O que pode ser apontado em relação aO Exorcista é a introdução de crianças possuídas por forças demoníacas, como em A Profecia (1976); essa temática é observada em Os Inocentes (1961) e em Village of the Damned (1960). A criança, assim como a mulher, são corpos vulneráveis e “sem controle”, sujeitos às forças do Mal. É necessário um sacrifício e/ou o extermínio para que tudo volte ao normal.
(6) Pássaros do amor, semelhantes aos periquitos.
(7) Ver Paul B. Preciado, O Manifesto Contrassexual.
(8) Fritzl é o médico austríaco que, em 2008, chocou o mundo quando descobriram que ele manteve a própria filha presa em um porão durante 24 anos e teve, com ela, 7 filhos.
Ilustração: Gustavo Inafuku