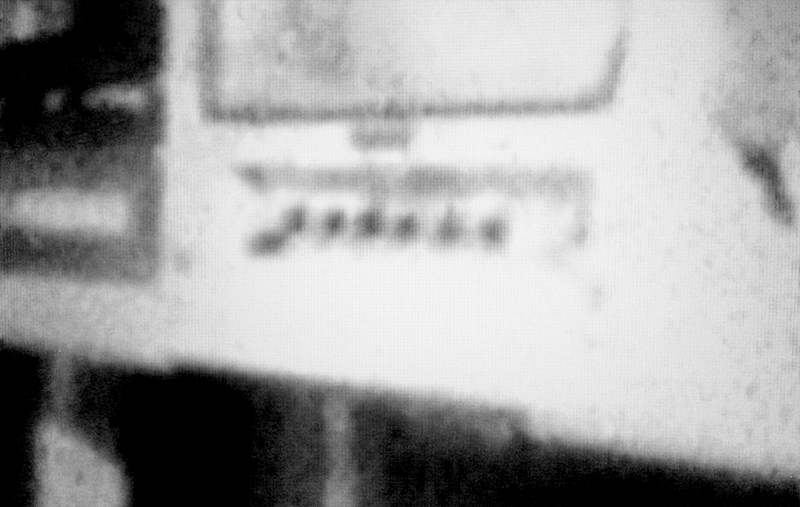perfil
Bruno O, identidade, mídia, número 12, Pedro Pepa Silva, Perfil, Rede Globo, telenovela, televisão
Nossa odiada favorita
A trajetória da Rede Globo – mais que uma emissora, um hábito nacional. Por Pedro “Pepa” Silva
Ela se confunde com os últimos 50 anos da história do Brasil. Líder em audiência e segunda maior emissora do mundo, a Rede Globo é uma instituição brasileira. Só a relação íntima com o poder mais o alcance que atingiu ao longo desses anos já justificariam essa definição. No entanto, ela possui ainda uma outra característica das instituições, que é a aparência de naturalidade: o fato de colar-se às ações cotidianas, quase como se sempre tivesse existido. Amada e odiada, exaltada e repudiada, a Globo criou raízes no gesto repetido diante do televisor, que a fez mais que uma emissora, um sinônimo da televisão brasileira, mais que um veículo de comunicação, um hábito.
“O que é bom está na Globo”
A história começa bem antes do dia 26 de abril de 1965, quando a emissora estreou às onze da manhã com o programa infantil Uni-Duni-Tê. Mais especificamente, ela começa no fim dos anos 1950, época em que televisão era sinônimo de luxo (um aparelho chegava a custar quase o preço de um carro!) e a programação ficava a cargo de algumas poucas emissoras. Havia a TV Tupi, pioneira na América Latina, a TV Record, a TV Paulista e a TV Rio (todas emitindo programação local – pelo menos até a criação do videotape, em 1963).
Entre 1957 e 1959, o governo JK promoveu uma série de concessões de novos canais, e a Rádio Globo, que existia desde a década de 1940, estava entre as contempladas. Ela ocuparia o canal 4 do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, no governo Jango, ela receberia ainda uma outra concessão, para a estação que lançaria em Brasília, em 1968.
Ficou estipulado que as empresas contempladas por JK teriam um prazo de dez anos para colocar sua emissora no ar – até a metade da década de 1960, pois, a Globo procurou se estruturar econômica e tecnicamente para isso. Em 1962, fez um acordo com o grupo Time-Life – criado um ano antes, que lhe rendeu 5 milhões de dólares – dependendo da fonte – em investimentos, capital fundamental na criação da estação carioca. Em troca, a empresa estadunidense teria direito a uma porcentagem de participação na emissora de Roberto Marinho.
Acontece, porém, que a legislação brasileira (a mesma que usava as concessões como moeda política) não permitia a participação de grupos estrangeiros em empresas de comunicação. Por conta de uma denúncia do governador Carlos Lacerda, dois meses após a estreia da emissora, em junho de 1965, o acordo passou a ser investigado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito. O fato é que a amizade de Roberto Marinho com o presidente Castelo Branco contou bastante para que o resultado (no Diário Oficial de 16 de março de 1967) fosse a inocência do grupo e a conivência por parte do governo diante do acordo ilegal. Quando houve a separação da Time-Life, em 1969, a Globo já estava bem à frente das concorrentes em termos econômicos e administrativos.
Para este último ponto, muito contribuiu o jovem Walter Clark, vindo da TV Rio, para se tornar o diretor da TV Globo. Poucos devem saber que a nova emissora teve seus primeiros oito meses no ar marcados por puro fracasso. Sua programação não conseguia bater a das concorrentes Record, Excelsior e Tupi. O destaque só viria no começo de 1966 por iniciativa de Clark, que solicitou a interrupção da programação normal para realizar a cobertura jornalística das enchentes que devastaram a cidade do Rio de Janeiro. Foi o primeiro gesto de “comunhão” da emissora com o cotidiano do telespectador e que se repetiria ao longo dos anos.
Outra figura importante desse momento inicial da Globo foi a cubana Glória Magadan. Contratada em 1965 para cuidar da produção de telenovelas (que interessavam cada vez mais às emissoras por estabelecer a fidelidade do telespectador), Glória vinha de uma longa experiência de escrita junto à Colgate-Palmolive, então a maior produtora de soap operas. Como autora e supervisora, ela foi responsável pela mentalidade industrial da emissora para o formato telenovela, indicando o caminho do sucesso: ceder ao público, padronizar, pasteurizar sem ter medo do ridículo.
A “feiticeira”, como Glória ficou conhecida, escreveu folhetins como O sheik de Agadir (1966), A rainha louca (1967) e A gata de vison (1969) – todos ambientados numa paisagem muito distante do país que a acolhera. Pelos exageros e lugares-comuns, Glória Magadan tornou-se uma figura esquecida, tida como símbolo de uma TV Globo pré-histórica e ultrapassada, rendida a um universo ficcional exótico, com figuras e paisagens estrangeiras que a telenovela “moderna” da década seguinte viria a suplantar.
Mas o grande feito da emissora naqueles anos iniciais seria no jornalismo. O período entre 1967 e 1968 foi marcado pela preocupação crescente do governo com a TV, reconhecida como um importante meio de integração nacional. O estabelecimento de uma infraestrutura como a rede nacional de micro-ondas da Embratel permitiria que programas fossem transmitidos em cadeia nacional. Esse empreendimento dos militares se iniciou em 1968 e se completou em 1972. E beneficiou primeiro a Globo. Afetada por um incêndio nos seus estúdios de São Paulo (que lhe rendeu uma boa quantia em seguro, diga-se de passagem), a emissora foi obrigada a concentrar a sua produção no Rio de Janeiro.
Com a nova infraestrutura, em setembro de 1969, a Globo levava ao ar o primeiro programa transmitido em rede: o Jornal Nacional, “um serviço de notícias integrando o Brasil novo”. O predomínio da notícia breve e a superficialidade eram condizentes não só com o contexto político do país, mas tocava também a ideia de jornalismo marcado pela concisão e objetividade. Espremido entre duas novelas, o JN sobrevive quase com a mesma configuração até hoje.
“Vem aí mais um campeão de audiência”
Quando, em 1970, Irmãos Coragem se tornou uma febre no país, levando os homens a verem novela, estava mais claro o alcance e poder que a Globo adquiria. O esgotamento proposital da TV Excelsior realizado pelos militares (e até hoje mal explicado) rendeu à Globo não só uma concorrente a menos, mas também diversos profissionais de peso. Houve, porém, um fator mais importante para o aumento da audiência.
Desde 1969, imprensa e setores mais conservadores promoviam uma cruzada contra programas tidos como popularescos, cujo universo era referido como “mundo cão”. Ora, a grade de programação da Globo era repleta de figuras e programas populares: Dercy Gonçalves, Raul Longras, Chacrinha, Sílvio Santos, Jacinto Figueira Júnior (ou “O Homem do Sapato Branco”). O repúdio a um modo de fazer TV impôs uma “assepsia do vídeo”, que muito interessava aos militares. Isso porque esses programas expunham diferenças de classe e de comportamento quando mostravam mendigos, casais emocionalmente desequilibrados, viciados e, principalmente, muitos miseráveis. Ou seja: tudo o que o Serviço de Censura de Diversões Públicas (um departamento da Polícia Federal) não queria que adentrasse a sala da família brasileira.
O grande debate passa a ser então a necessidade de uma programação mais educativa e de “bom gosto”. E educação e bom gosto se confundiam com a exploração do moderno, do urbano, das famílias das metrópoles e de uma “cultura letrada”. A Globo vai se beneficiar por ser a emissora que mais tinha dinheiro para produzir em larga escala os programas de “alto nível” sugeridos pelos ministros da Educação e das Comunicações. Esses novos valores permeariam sua produção. Em teledramaturgia, com autores da vanguarda do teatro como Dias Gomes, Bráulio Pedroso, Jorge Andrade, Lauro César Muniz); no jornalismo, que se beneficiava do trabalho de cineastas como Eduardo Coutinho e João Batista de Andrade em documentários para o Globo Shell Especial e o Globo Repórter; e nos espetáculos (festivais e programas dedicados à música brasileira, além do formato de revista televisiva do Fantástico, “o show da vida”, conjugando reportagens e clipes musicais).
Evidente que sob esse aspecto moderno persistiam um discurso e uma programação ainda afeitos ao regime autoritário. Se a teledramaturgia exibia obras de resistência (como a alegoria de O bem-amado ou o realismo existencialista de O grito), havia na mesma grade um programa ufanista como Amaral Netto, o Repórter. Verdadeira plataforma do regime, essa produção independente apresentava reportagens sobre as belezas naturais do Brasil (nos moldes da configuração mais recente do Globo Repórter) e foi veiculada pela Globo até 1983 nas noites de sábado.
A dimensão do afeto (e a modernidade suposta)
O “salto de qualidade” da Globo resulta em mais audiência, mais poder econômico e principalmente muito prestígio. O grande diferencial em relação a outras emissoras era sua capacidade de produzir a maior parte da programação veiculada sem ter de apelar aos chamados “enlatados”. Junte a isso um empenho na criação de uma identidade visual e sonora bem próprias. Esses são os fatores para o epíteto de “Hollywood brasileira”. Não era exagero para uma emissora que produzia além de casos especiais (praticamente um filme por semana), quatro novelas diárias. Trabalhar na Globo se tornava um sonho: para qualquer artista, estar lá era sinônimo de popularidade, reconhecimento e, principalmente, estabilidade financeira.
Um parêntese para uma digressão teórica. O crítico cultural britânico Raymond Williams falava, no fim dos anos 1960, na emergência de uma “sociedade dramatizada”, marcada pela convivência diária com formas ficcionais do teatro, cinema, rádio e televisão. Williams demarcou historicamente o fato de que o homem do século 20 via mais ficção que qualquer homem de outra época viu ao longo de uma vida inteira. A ideia é interessante para se pensar a construção do poder da Globo em torno de sua dramaturgia ao longo dos anos 1970 (e não em torno do telejornalismo ou de outro gênero televisivo). Na convivência diária com as histórias boladas pela Globo estão gestadas formas de representar e sentir, formas de ser homem e ser mulher.
Pela dimensão do afeto, despertada pelas suas produções, pelos profissionais e pelas histórias contadas, a Globo se fixa no imaginário nacional. É fácil observar como nas memórias de telespectadores, a programação se mistura às lembranças do cotidiano familiar. Os horários das tarefas diárias se relacionam ao momento em que vai ao ar um programa, numa comunhão entre o tempo televisivo e o ritmo da vida no ambiente doméstico. Estamos falando então de uma ligação entre a Globo e o cotidiano que é um processo e que tem uma história. E na década de 1970 está seu capítulo fundador.
A Globo era de fato cool. Quase uma utopia para quem vislumbrava uma sociedade midiatizada. Ora, quem se não ela trazia aos poucos para as salas escuras dos lares do Brasil uma representação da modernidade? Além das vinhetas coloridas, do aspecto futurista de sua identidade visual, nas brechas possíveis, alguns autores de telenovelas arriscavam falar de costumes e hábitos modernos demais para um país ainda dividido entre os valores do campo e da cidade.
Com Dancin’ Days (1978), por exemplo, o país era arrebatado pela febre da disco music. Toda e qualquer cidadezinha passou a considerar como condição de lazer a criação de uma discoteca. Esse “cosmopolitismo do pobre” representava a condição de pertencimento possível num mundo cada vez mais marcado pela experiência do consumo e da massificação. Mas era também a identificação possível para quem estava longe dos grandes centros.
Com a criação de seriados, a Globo chamou literatos e dramaturgos para pintar uma nova paisagem televisiva. Ciranda cirandinha (1978), por exemplo, falava pela primeira vez dos dilemas da juventude. Já Carga pesada (1979) mostrava um Brasil distante do urbanizado. Num momento em que a questão feminina era candente, surgiu uma das figuras mais famosas do nosso vídeo: Malu mulher. Exibido a partir de 1979, o seriado pretendia explorar a condição feminina a partir da história de uma socióloga divorciada, branca, de classe média, vivendo numa cidade grande. Para Regina Duarte, tratava-se de um exercício vicário, de expiação das protagonistas mais frívolas que marcaram a atriz. Para o público, foi a primeira possibilidade de refletir mais detidamente sobre uma palavra que algumas novelas das oito já vinham dizendo: feminismo.
“O que pinta de novo, pinta na tela da Globo”
Se no período mais sombrio da ditadura, a Globo forjou uma visão acrílica do país, tendo como álibi a força controladora do regime, no período de distensão da abertura política, quando a censura arrefecia, os silenciamentos da emissora passaram a ser lancinantes – e seu projeto de poder, mais evidente.
Na década de 1980, três fatos notórios revelaram que a Globo estava onde sempre estivera: de seu próprio lado. E com uma concepção toda própria do processo político brasileiro. O primeiro: a Globo foi a última emissora a falar nas movimentações populares pelas Diretas Já. Quando não só a imprensa escrita, mas também telejornais da Manchete e da Bandeirantes já exibiam matérias sobre as movimentações, o Jornal Nacional insistia no silêncio ou transformava as passeatas em “solenidade”, “comemoração”, algo que não era “apenas uma manifestação política”. O segundo: a intenção em fraudar a eleição de Brizola em 1982, no caso conhecido como Proconsult, revelava seu desejo de interferir diretamente na cidade do Rio de Janeiro. O terceiro e mais famoso: a edição do debate entre Collor e Lula em 1989, fato crucial para o resultado das eleições presidenciais numa campanha plena de episódios sórdidos.
A máscara caída, porém, não impediu a supremacia da Globo ao longo da década. O fim da TV Tupi em 1980 faria da Globo a rainha absoluta da teledramaturgia. Entre 1982 e 1983, numa época marcada pela oposição a programas enlatados, a Rede Globo se gabava de sua produção em slogan: “Só aqui, no horário nobre, uma programação 100% nacional!”. As outras emissoras se tornariam aos poucos reféns ou vítimas do “padrão de qualidade” global, sucumbindo à exibição de programas estrangeiros ou apelando para produtoras como Abril Vídeo ou Olhar Eletrônico para produzir algo diferente.
Em termos de teledramaturgia, o projeto da Globo nos 1980 pode ser considerado mais conservador. A última novela da década anterior, Os gigantes (1979) foi o derradeiro suspiro criativo na busca de uma dramaturgia televisiva mais ousada. Nela, a protagonista interpretada por Dina Sfat era sexualmente ambígua, recusava o papel de mãe e esposa, e se via às voltas com problemas éticos e existenciais após realizar uma eutanásia no irmão. Na prática: uma novela pesada, que contrastava diretamente com o universo feminino e algo otimista exaltado em Malu mulher. A queda de audiência foi um sinal para o fim de novelas intelectualizadas – elas passarão a ser mais padronizadas em termos de estruturas narrativas e de ambientação (fato que só se transformará em parte nos anos 1990 e nas produções mais recentes).
Há momentos relevantes entre as mais de cinquenta novelas produzidas ao longo da década de 1980. É a época de produções que virariam clássicos, como as comédias do horário das sete ou tramas como Roque Santeiro (1985), Roda de fogo (1986), Vale tudo (1988), Tieta (1989) e O salvador da pátria (1989), que sedimentariam o horário nobre como o espaço da ficção (e não só para as mulheres, vale ressaltar!).
Para suprir o fim das novelas das dez e dos famosos casos especiais, surgem as minisséries, mais curtas, que serão o produto ficcional mais bem acabado da década de 1980. Por elas passaram questões de gênero importantes que não teriam tanto espaço em outros horários. Foi o caso de Quem ama não mata (1982), cujo título incorporava o slogan feminista que criticava o uso frequente da noção de “crime passional”. Já Grande sertão: veredas (1985), escolhendo como protagonistas símbolos nacionais de macho e fêmea como Tony Ramos e Bruna Lombardi, tentava levar ao ar o romance-chave da ambiguidade sexual brasileira. Anos dourados (1986), por sua vez, falava da moral sexual da década de 1950 refletindo os anseios e demarcando as diferenças com a juventude oitentista.
Parte da supremacia da Globo nesse momento se deve ao fato de ela mirar um público cada vez mais amplo. Na primeira parte da década de 1980, ela vai mirar a mulher com programas femininos como o famoso TV Mulher. Na segunda parte da década o horário matutino será todo dedicado à programação infantil, que se fortaleceu com A Turma do Balão Mágico e se consolidou com o fenômeno Xou da Xuxa. A babá eletrônica dos anos 1980 tinha mesmo a cara da desigualdade nacional – quem a visse, diria que o país era loiro.
Já a juventude dos 1980 – aquela mistura pós-desbunde que começava a encaretar – via Armação ilimitada e curtia no programa Mixto quente, a domesticação do rock nacional (também alimentado pela Som Livre e pelas trilhas de novelas da Globo). Para ela, também seria dedicado o horário das sete com tramas ágeis ou ensolaradas como Bebê a bordo (1988) ou Top model (1989). Com o humor de Chico Anysio Show (1982-90) e TV Pirata (1988-90), toda a família brasileira estava ligada na tela da Globo.
“Globo e você, tudo a ver”
Uma história da TV no Brasil não poderá deixar de notar o quanto a guerra pela audiência teve seu momento crucial nos anos 1990, afetando produções, formatos, conteúdos de todas as emissoras. Estamos falando de um cenário televisivo que se transformava rapidamente e no qual o cardápio do telespectador se ampliava tanto com os canais UHF (a MTV, por exemplo, surgia em outubro de 1990) quanto com os canais a cabo. Neste setor, em novembro de 1991, foi lançada a Globosat, “a primeira TV por assinatura via satélite”, que então oferecia apenas quatro canais. Mas mesmo na TV aberta a audiência estava pulverizada. Tanto que a Globo teve de engolir em seco sua primeira derrota em termos de teledramaturgia.
Pantanal, da Rede Manchete, estremecia sobremaneira o método e o padrão Globo em 1990. De repente, uma emissora ousava mostrar um Brasil diferente daquele Brasil acrílico global: havia natureza exuberante e corpos nus. Uma narrativa com um tempo e um universo distintos dos das tramas globais e que injetaria novo fôlego nos modos de se fazer televisão e telenovela no país. A resposta da Globo viria com o aprendizado da lição e a superação da concorrente: suas novelas passariam a se interessar por outros aspectos do país e seriam espaço de trabalho para atores que deixariam uma Rede Manchete já em crise.
As novelas das oito teriam ainda no merchandising social e na alegoria política as regras do método. Se De corpo e alma (1992) confundiria ficção e realidade com o caso Daniella Perez (que, diga-se, expunha o machismo, a violência contra a mulher e preconceitos arraigados nos diversos setores da sociedade), Explode coração (1995) apostava na mistura exótica de internet, ciganos e transgênero.
A melhor novela da década, O rei do gado (1996), falava claramente em reforma agrária dois meses após o Massacre de Eldorado dos Carajás. Citava termos como “latifundiários”, “MST”, “terras improdutivas”, “invasões”, até então restritos ao telejornalismo, e tratava de violências perpassando as mais diversas relações (de classe, de gênero, de geração). Ou seja, tudo aquilo que a televisão poderia ser e que não foi.
E não foi especialmente porque a espetacularização e o sensacionalismo se impunham então quase como sinônimos de linguagem televisiva.
“A gente se vê por aqui”
Além do plim-plim e do universo gráfico característico, a Globo se fixou no imaginário por meio de seus slogans. De todos eles, o mais representativo foi o “a gente se vê por aqui”, veiculado a partir de 2001. O slogan não só destaca a onipresença da rede da família Marinho, mas também a estabelece definitivamente como um lugar na vida brasileira. Até mesmo esse ar de frase banal, coloquial, acentua o ato corriqueiro de ligar a TV na Globo, de identificar a televisão com a Globo.
Na prática, o que se via era uma progressiva segmentação cultural em oposição à massificação dos anos 1970 e dificilmente identificada naquele momento. No entanto, o slogan não era tão amplo para indicar, por exemplo, um espaço que a Globo ainda não dominava: a internet. O portal G1 só surge em 2006 e a preocupação com o conteúdo na internet ainda é quente em 2014…
Esse slogan guarda ainda um sentido de representação. “Ver-se na Globo” significava ser inserido na paisagem acrílica brasileira que a emissora insistia em sustentar. Nada mais falso quando se pensa na imagem higiênica, heteronormativa, branca, carioca-da-zona-sul que compõe essa paisagem… Afinal, onde estavam negrxs, gays, pobres?
Mas esse “ver-se na Globo” também parecia instaurar uma nova relação do telespectador com a emissora, que se entregava a formatos estrangeiros e reality–shows (caso do programa mais famoso da década, o Big Brother Brasil). “Ver-se na Globo”, afinal, se tornava possível para o cidadão comum. Não era preciso ser artista nem almejar a novela das oito. Até porque ela foi ficando cada vez menos interessante nesses anos. De O clone (2001) a Amor à vida (2013), vimos cenários irritantemente pomposos em tramas escritas agora por trinta roteiristas, insistindo num universo ficcional que o telespectador superava graças ao acesso à TV a cabo e à liberdade de baixar gratuitamente o que quisesse na internet.
Não deixa de ser um exercício de humildade (será?) que em 2014 a Globo assuma um novo slogan: “A Globo está em movimento para acompanhar a vida, o mundo, e você”. Se o futuro já começou, a Globo ainda está em movimento para entender. Num cenário em que o consumo de televisão se transforma radicalmente (e é preciso que se diga que hoje, mais que em qualquer outra época, consumimos mais e mais televisão), a antiga “Vênus Platinada” não sabe lidar com Youtube, Facebook, conteúdo on demand, cross media. Enquanto você pensa se vale mesmo a pena comprar um blu-ray, a Globo lança… DVDs e mais DVDs com programas antigos. Ou um canal para exibir essa programação antiga.
Pelas bordas e brechas
Há uma postura recorrente no Brasil de repúdio à televisão como se ela fosse o meio mais alienante. Talvez o contexto atual de convivência de diversas mídias ajude a constatar o quanto uma visão paternalista da TV nos impede de entendê-la além das questões ideológicas. O fato de que a Globo seja considerada sozinha “o ópio do povo”, como dizia um famoso livro-reportagem dos anos 1970, é uma visão ingênua e datada.
O repúdio à Rede Globo vem evidentemente do fato de ela ter se tornado símbolo do que se deseja ainda transformar: a manutenção de uma ordem da comunicação marcada pela concentração midiática ou a hegemonia na produção audiovisual, por exemplo. Mas ela merece ser entendida para além dessas visões simplistas, no quadro singular do modo brasileiro de fazer televisão. E para não se cair em oposições fáceis, não se pode perder de vista os diferentes modos pelos quais a televisão foi compreendida, experimentada e consumida no país.
Claro que não se pode esquecer que o enraizamento da Globo no cotidiano nacional foi pensado administrativamente e conquistado graças ao seu poder econômico. A situação é decorrente de anos de investimento, de flerte com as diversas tendências políticas e comportamentais da sociedade brasileira, da capacidade da emissora de contar e ressignificar cotidianamente a sua história. Mas, sendo a Globo uma instituição e um hábito nacional, é tempo de observamos mais as brechas que nascem de seu discurso.
Quem se interesse pelas problemáticas da cultura nacional dos últimos cinquenta anos deve estar aberto a reconhecer as brechas, as nuances das questões, além de empreender um exercício cotidiano de desconstruir oposições e lugares-comuns. Reconhecer o lugar da Globo como produtora, divulgadora ou mediadora no cenário da cultura brasileira exige que a enxerguemos em seus contextos específicos. Dar um sentido único para sua trajetória é desconsiderar essas brechas nas quais muita gente pode se apoiar para repensar seu lugar e sua identidade.
Pensar as brechas dos discursos significa reconhecer a TV não só pela ótica das ideologias, mas observar sua atuação nas diversas identidades e analisá-la pelos diversos sentidos que damos a ela: fonte de informação, lazer ou entretenimento, babá eletrônica, companhia dos solitários e esquecidos, ou mero exercício contemplativo… Avaliar a Globo (e a televisão de modo geral) apenas pelo que teria de “manipuladora” é desmerecer a capacidade do telespectador de ver, sentir e interpretar a TV a partir do seu lugar no mundo.
Leia outros textos de Pedro “Pepa” Silva e da seção Perfil.
Ilustração: Bruno O.