resenha
aborto, Andrew Solomon, autismo, Clara Lobo, deficiência, feminismo, homossexualidade, identidade, Longe da Árvore, número 29, parentalidade, Renata Torres, transgeneridade
As crianças incomuns
Uma resenha de “Longe da árvore”, livro de Andrew Solomon. Por Clara Lobo
Publicado em 06/03/2016
Andrew Solomon costuma escrever impulsionado por suas próprias questões. Para conseguir entender a si mesmo e como sua experiência se encaixa no mundo, ele necessita compreender o outro, suas semelhanças e diferenças. Seu livro anterior, O demônio do meio-dia, é um estudo meticuloso sobre a depressão em diferentes culturas e extratos sociais. Sua última obra, Longe da Árvore, sobre parentalidade, levou dez anos para ser finalizada. Para isso, o autor reuniu mais de 50 mil páginas em transcrições de entrevistas e produziu um livro de quase 1800 páginas, riquíssimo em informações e comentários.
Solomon possui grandes qualidades como pesquisador e escritor: é curioso, dedicado, empático, reflexivo. É também um observador arguto, apesar de, muitas vezes, ser um adjetivador pouco criterioso. Seu texto deriva de grandes escritores como Truman Capote e Oliver Sacks; está aí, entre o novo jornalismo e a medicina narrativa, sua filiação literária.
Em seu capítulo inicial, “Filho”, Solomon tenta traçar a base comum de todo o livro: a ligação (e diferença) entre doença e identidade. Para isso, apresenta sua teoria sobre identidades verticais e horizontais, que consiste em considerar verticais as identidades que comumente são passadas de mãe/pai a filhx (raça, religião, nacionalidade) e horizontais aquelas que comumente não sao partilhadas entre as gerações (homossexualidade, deficiências físicas, autismo). Assim, ele escolhe dez desvios de padrão que as famílias têm de enfrentar: surdez, nanismo, síndrome de down, autismo, esquizofrenia, deficiência física grave, genialidade, transgeneridade, filhos oriundos de estupro, filhos criminosos. Difícil encontrar uma única experiência que encerre em si guarda-chuva tão heterogêneo, mas Solomon possui tamanha riqueza de material e um olhar tão amoroso dirigido ao seu objeto de estudo que a coesão da obra se dá naturalmente.
Segundo Solomon, “as identidades verticais em geral são respeitadas como identidade; as horizontais são muitas vezes tratadas como defeitos”. Ao comparar, por exemplo, a dificuldade de ser negro e ser gay hoje em dia, ele aponta que, apesar de muitas vezes os obstáculos serem equiparáveis, nenhuma família negra deseja que seu filho nasça branco. Ao passo que, sob a justificativa de beneficiar a vida dx filhx gay, muitas famílias heterossexuais tentam obliterar a sua homossexualidade. Assim, com frequência, usamos o termo “doença” para depreciar um modo de ser, e “identidade” para validar essa mesma maneira de ser. Para o autor, em relação à maioria dos casos presentes no livro, “precisamos de um vocabulário em que os dois conceitos não sejam opostos, mas aspectos compatíveis de uma condição”.
As identidades horizontais podem ser reflexo de genes recessivos, mutações aleatórias, influências pré-natais, ou valores e preferências que uma criança não partilha com mães e pais. Solomon ressalta que é importante saber como pessoas autistas se sentem em relação ao autismo, ou anãs em relação ao nanismo. A completa aceitação de si mesmo é da ordem do ideal, e, sem aceitação familiar e social, ela dificilmente ocorrerá. Sem o apoio da população não afetada, é impossível erradicar as injustiças a que muitos grupos de identidade horizontal estão sujeitos. Por isso, para Solomon, é importantíssima a interseccionalidade, vertente do feminismo que afirma que os vários tipos de opressão alimentam uns aos outros. Segundo ela, é impossível, por exemplo, eliminar o sexismo sem resolver o racismo.
Para o autor, “o fato de eu ser gay não teria feito de mim um bom pai para uma criança surda até que eu tivesse percebido as semelhanças entre a experiência de um surdo e de um gay. Um casal de lésbicas que entrevistei que tinha um filho transgênero me disse aprovar o assassinato de George Tiller, o provedor de abortos, porque a Bíblia diz que o aborto é errado; no entanto, elas ainda estavam espantadas e frustradas diante da intolerância que tinham encontrado em relação à identidade delas e de seu filho.” Segundo ele, “estamos sobrecarregados com as dificuldades da nossa própria situação e fazer causa comum com outros grupos é uma perspectiva desgastante. Mas comparar pessoas com deficiências às pessoas que são gays não implica nenhuma negatividade em relação à homossexualidade ou à deficiência”.
Com esse amplo objetivo, o livro se propõe a detalhar experiências de parentalidade que, em um primeiro olhar, parecem distantes entre si, mas que contém uma intensidade de vivência que uma criança considerada “normal” dificilmente traria. Enquanto cuidar de crianças com deficiência faz com que a idade biológica ultrapasse a idade cronológica, o que estaria associado a função imune reduzida e morte precoce, muitos entrevistados relataram que esses mesmos problemas, que os alijaram de sua saúde, “os aproximou de seus cônjuges, de outros membros da família e de amigos; ensinou-lhes o que é importante na vida; aumentou sua empatia; gerou crescimento pessoal; e fez com que amassem seu filho ainda mais do que se ele tivesse nascido saudável”.
O estudo de Solomon relaciona a aceitação dxs filhxs por suas famílias com a autoaceitação dessas crianças. Ao mesmo tempo, ele analisa a forma como a aceitação da sociedade em geral afeta tanto essas crianças, como suas famílias. Diz ele: “Em sua obra clássica Estigma, Erving Goffman sustenta que a identidade se forma quando as pessoas se orgulham daquilo que as tornou marginal, possibilitando assim alcançar autenticidade pessoal e credibilidade política”.
Um exemplo do binômio doença-identidade seria a cegueira. O autor nos conta a história de uma mulher cega, Deborah, casada com Dick, que enxergava, com quem teve uma filha com visão perfeita: “A menina mostrou que enxergava, como Dick descobriu fazendo-a acompanhar seus movimentos. Ele ligou para os sogros a fim de contar a novidade; desde então, ele relembra o dia em que sua filha se virou para observar os movimentos de seus dedos. ‘Na voz dele, ouço um eco da excitação e do alívio que eram tão vívidos para ele naquela manhã, há muito tempo’, escreveu Deborah. ‘Cada vez que ouço a história, sinto uma pontada da velha dor, e por alguns momentos, sinto-me muito sozinha de novo’. (…) A solidão de Deborah reflete uma disjunção entre sua própria percepção — de que ser cego é uma identidade — e a de seu marido — de que é uma doença.” Arremata Solomon: “Ser gay e ser cego são coisas diferentes, mas ter uma individualidade que os outros percebem como indesejável é idêntico”.
No maravilhoso capítulo “Anões”, Dan Kennedy, pai de uma filha anã, comenta: “Vejo no nanismo uma metáfora da diferença. Se o valorizamos; se o tememos; se acabaríamos com ele, dada a oportunidade”. Atualmente, os futuros pais têm cada vez mais opções de escolher não ter filhos com desafios horizontais. Segundo o livro, “um quarto dos entrevistados em uma pesquisa recente optaria pelo aborto se descobrisse que estava esperando um anão. Um dado ainda mais impressionante nos diz que mais de 50% dos médicos entrevistados fariam essa mesma escolha”.
Após haver lido dezenas de páginas de relatos sobre pessoas anãs inteligentes, amorosas, empáticas, ativistas LGBT, não pude deixar de me horrorizar ao pensar em um aborto dirigido contra o nanismo. Não menos do que me horrorizo com os abortos indianos e chineses dirigidos contra fetos femininos. Solomon fala muito sobre a tecnologia eugênica que possibilita a eliminação da diversidade, mas há uma diferença abissal entre suprimir a surdez pelo uso do implante coclear e eliminar o nanismo pelo aborto de fetos com acondroplasia. Enquanto o autor descrevia as histórias de mães e pais que, por inúmeras razões, consideravam abortar seus fetos anões, eu torcia para que todos mudassem de ideia ao final.
No capítulo “Autismo”, fala-se em neurodiversidade e preconceito neurotípico, e ações afirmativas abundam, principalmente entre os indivíduos de alta funcionalidade, como os acometidos pela síndrome de Asperger. Eles são engenheiros, professores universitários, biólogos. Entretanto, a síndrome do espectro autista abrange também pessoas de baixíssima funcionalidade, incapazes de aprender a ler ou escrever, de se comunicar verbalmente, tomar banho sozinhas ou limpar suas próprias fezes.
É importante, assim, levar os diferentes graus de autismo em consideração ao ponderar a afirmação de Jim Sinclair, uma pessoa autista intersexual: “Quando os pais dizem ‘Eu gostaria que meu filho não tivesse autismo’, o que eles realmente estão dizendo é ‘Gostaríamos que o filho autista que temos não existisse e tivéssemos em vez dele um filho diferente (não autista)’. Leiam isso de novo. Isso é o que ouvimos quando vocês lamentam por nossa existência. Isso é o que ouvimos quando vocês rezam por uma cura. Isso é o que entendemos quando nos falam de suas mais caras esperanças e sonhos para nós: que o maior desejo de vocês é que um dia deixemos de existir e estranhos que vocês possam amar entrem atrás de nossos rostos”.
Enquanto alguns pais tentam eliminar a surdez com o implante coclear, ou o nanismo e a síndrome de Down pelo aborto, com o autismo lê-se, pela primeira vez no livro, sobre filicídio. “Os pais de autistas geralmente ficam privados de sono. Com frequência empobrecem devido ao custo do tratamento. Vivem sobrecarregados com as necessidades incessantes dos filhos, que quase sempre requerem supervisão constante. Estão sujeitos a se divorciar e a se isolar. A passar horas sem fim lutando com os provedores de seguro-saúde e com a autoridade educacional que determina que serviços seus filhos vão receber. A perder o emprego por excesso de faltas para administrar crises; muito amiúde, têm péssimas relações com os vizinhos porque os filhos destroem as coisas”. A vida de uma mãe/pai de criança autista pode ser duríssima, mais do que muitas pessoas podem aguentar: “Nada mais devastador do que ter um filho incapaz de exprimir amor de modo compreensível, um filho que passa a noite inteira acordado, requer supervisão constante, grita e esperneia, mas não consegue comunicar o motivo ou a natureza de seu mal-estar”. Solomon conta o caso de Debra Whitson, que tentou assassinar o filho, e que assim se explicou à polícia: “Esperei onze anos para ouvir meu filho dizer: ‘Eu te amo, mamãe’.”
Nos Estados Unidos, as penas recebidas por essas mães e pais assassinxs são surpreendentemente brandas, o que revolta a comunidade autista. Mas Solomon faz questão de diferenciar: enquanto nos autistas de alta funcionalidade o autismo é muito mais identidade do que doença, nos de baixa funcionalidade é muito mais doença do que identidade. Isso de maneira alguma justifica o ato filicida, mas faz refletir sobre os limites emocionais/psicológicos dessas mães e pais, e sobre a falta de apoio institucional que elxs enfrentam.
Ao final do capítulo “Deficiência”, sobre deficientes físicos graves (e depois de ter passado por “Esquizofrenia”), minha disposição já havia mudado completamente. Aos poucos, Solomon parece nos guiar em uma longa descida ao inferno parental. Quando ele inicia a história de mais um casal que se apaixona, minha reação imediata é pensar: “Não, não levem adiante essa gravidez. Será duríssimo. Vocês irão se arrepender”.
O desalento se dissipa com a introdução do capítulo seguinte, “Prodígios”. A partir daí, Solomon trata de questões de ordem social (estupro, crime), em vez de genética-patológica. Em “Transgêneros”, se inverte uma das grandes questões do livro: aqui, pela primeira vez, a intervenção médico-cirúrgica serve para reparar e trazer à luz uma identidade, e não para eliminá-la. Para ele, é um desafio às nossas crenças mais básicas o fato de que, para manifestar sua identidade autêntica, uma criança precise sofrer uma intervenção fisiológica radical. “É interessante observar, no entanto, que vem do grupo de identidade marginal o protesto contra o implante coclear, e que vem do grupo de identidade marginal a demanda a favor das cirurgias trans”.
Há, ainda, a questão da transfobia: “Filhos com deficiência grave, autistas, esquizofrênicos, criminosos — muitos deles correm mais risco de vida do que um filho convencionalmente saudável, mas os pais de pessoas trans se veem diante de duas possibilidades terríveis: se o filho não for capaz da transição, pode cometer suicídio; se fizer a transição, pode ser morto por isso. Os assassinatos de pessoas trans muitas vezes não são noticiados; quando se tornam públicos, é raro que sua condição de crime de ódio venha à tona”.
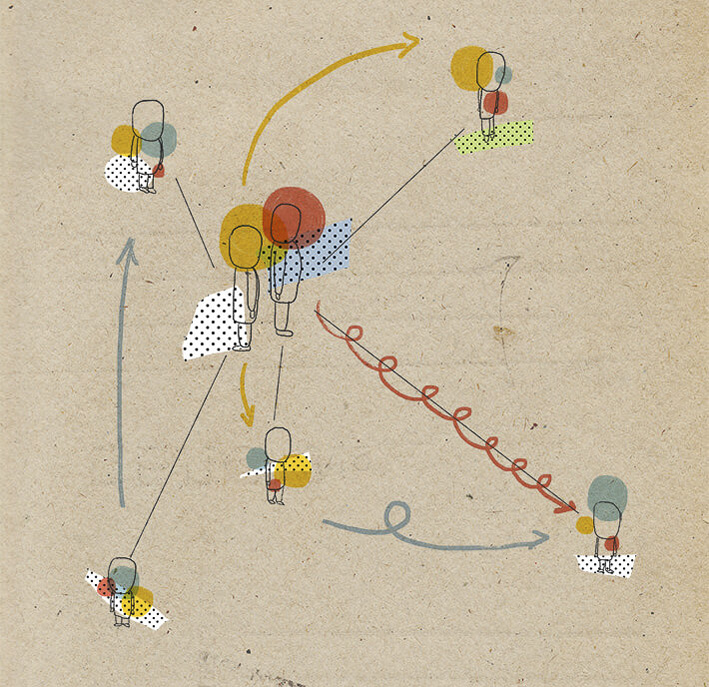
O impasse feminista
Minha discordância em relação ao texto de Solomon se concentra no tratamento da questão da mulher. O autor, apesar de se considerar ativista gay e ter uma empatia generalizada por minorias, falha ao problematizar as questões do feminismo. Falarei sobre isso rapidamente, já que o assunto é marginal ao universo do livro. Entretanto, certas coisas não devem passar em branco:
Na página 45, sem objetivo aparente, ele escreve: “Embora homens assassinos normalmente tenham por alvo pessoas não relacionadas a eles, quase 40% das mulheres assassinas matam seus próprios bebês. Relatos de crianças abandonadas em lixeiras e as sobrecarregadas redes de adoção apontam para a capacidade de desapego dos seres humanos.”
Primeiramente, esclareçamos outros dados, ausentes no livro: Nos Estados Unidos, 90% dos assassinatos são cometidos por homens. Dos filhos mortos por um dos pais, cerca de 57% são assassinados pelo pai, 43% pela mãe. Das mães assassinas, todas se encaixam em pelo menos uma dessas categorias: tendência ao suicídio e depressão, psicose, uso de drogas psiquiátricas, isolamento social, indigência, ou mães em tempo integral que eram, elas próprias, vítimas de violência doméstica. Claramente, não estamos tratando aqui da “capacidade de desapego dos seres humanos”.
Deixo, então, a minha objeção: Por que e para que a escolha desses dados parciais? Por que presumir que as mulheres matam porque possuem uma ”capacidade de desapego”? Solomon, tão cuidadoso ao tocar a subjetividade de seus entrevistados, parece perder de vista questões político-sociais de suma importância.
Na página 1128: “Mães solteiras têm mais filhos delinquentes, embora seja difícil dizer se isso acontece porque ser criado sem pai é traumático, ou porque mães solteiras tomaram decisões medíocres quanto aos parceiros e tomam decisões medíocres como mães”.
Aqui, na formulação machista da frase, o indulto ao pai e a culpabilização da mãe. Do pai, que abandonou a família, sequer se espera responsabilidade. A culpa de ser mãe solteira, de ter sido abandonada pelo progenitor de sua cria, é claramente da mulher, que tomou uma “decisão medíocre” quanto ao parceiro. Depois, a culpa de seus filhos cometerem crimes são suas “decisões medíocres como mães”.
Ele segue. No capítulo “Estupro”, a ausência das palavras “patriarcado” ou “cultura do estupro” é, no mínimo, incômoda. Sobre as vítimas de estupro, ele comenta: “Elas não tinham a intuição a guiá-las e apresentavam uma cegueira para a falta de caráter até o momento em que esta se manifestava”. Novamente, uma sutil culpabilização da vítima.
Por fim, a prova de que um ativista gay pode ser extremamente heteronormativo: “Eu queria imitar o que havia de melhor em meu pai e em minha mãe; na vida da mente, em que muitas vezes os homens prevalecem, e na do coração, em que as mulheres costumam dominar”. Algo pode soar mais estereotipado que isso?
A questão central a ser debatida
Mesmo que não esteja posto claramente, o tema do aborto como direito a não ter filhos em oposição ao aborto como direito a não ter um filho específico permeia todo o livro. O autor afirma haver “uma colisão problemática entre a priorização do aborto legal pelo feminismo e a oposição do movimento dos direitos dos deficientes a qualquer sistema social que desvalorize a diferença”. Solomon se posiciona discretamente, por meio dos seus entrevistados: “Mesmo acabrunhado de tristeza pela morte recente de Laura, seu pai me disse: “Quando Laura foi concebida, não existia o exame de amniocentese para fibrose cística. Esse exame foi criado depois. Se tivéssemos sabido, Laura não teria nascido. Eu ainda penso: ‘Meu Deus… a vida poderia ter-lhe sido negada’. Que tragédia isso teria sido”.
Segundo o autor, a mãe/pai que decide eliminar a identidade problemática dx filhx pensa, antes de tudo, em ter controle sobre a própria vida. Sobre a incapacidade de sua mãe de aceitar sua homossexualidade, ele escreve: “Era a vida como mãe de um homossexual que ela desejava alterar. Infelizmente, não havia maneira de ela resolver seu problema sem me envolver”. Enquanto a não-aceitação de certas identidades revela apenas preconceito cultural ou ignorância, em vários casos se tenta evitar uma vida de dedicação exclusiva, passada, quase que em sua totalidade, em hospitais, terapias e grupos de apoio.
As identidades indesejadas correm riscos. Solomon alerta: “Se desenvolvermos marcadores pré-natais para a homossexualidade, muitos casais abortarão seus filhos gays”. E prossegue: “A jornalista Patricia E. Bauer relatou no Washington Post as pressões que teve de suportar quando decidiu ter a filha que recebera um diagnóstico pré-natal de síndrome de Down. Ela escreveu: ‘Os testes pré-natais estão transformando nosso direito de abortar uma criança deficiente numa obrigação de abortar crianças deficientes'”. Se a tendência é seguir o caminho dominante, Solomon prevê um mundo destituído de variedade e vulnerabilidade, guiado por uma ideologia liberal eugênica e homogeneizante.
O direito ao aborto e o entendimento aprofundado do que é uma vida humana devem andar lado a lado. Como feminista a favor do direito legal ao aborto e contra a ideologia que leva ao aborto de fetos de identidades malquistas, posso dizer que as duas reivindicações são absolutamente compatíveis. Que possamos não ser mães e pais contra a nossa vontade, e que possamos nos abrir para o desconhecido dessas identidades horizontais que, às vezes, tanto tememos, e que tanto podem nos ensinar.
Ilustração: Renata Torres