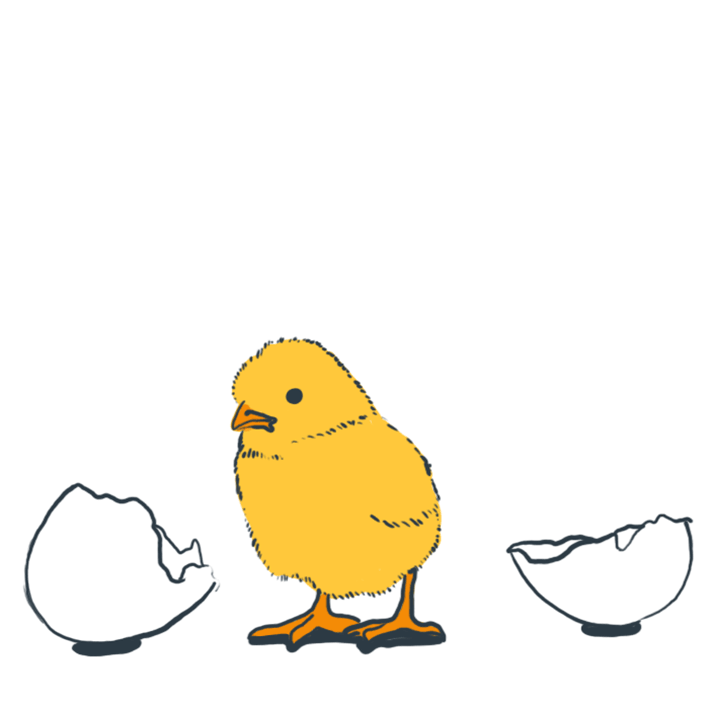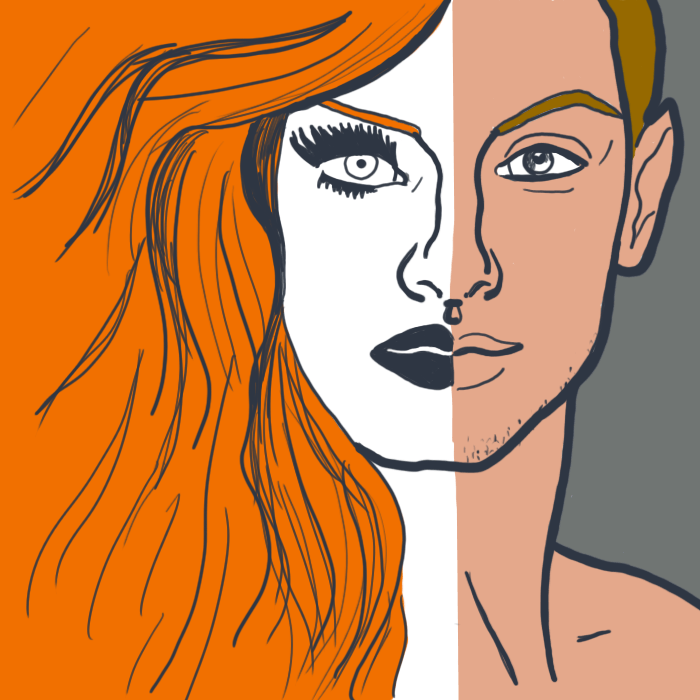coluna
À Flor da Pele, Amanda Palha, coluna, gênero, Gunther Ishiyama, identidade, número 11, transgeneridade, transição, travesti
À FLOR DA PELE |“Parabéns, vai ser menino!” – só que não
Acertando as contas com o médico. Por Amanda Palha
A pequena sala respirava fundo o suspense quase litúrgico que a cena pedia: recostado na cadeira de couro, o rei de branco mantinha o silêncio cerimonioso enquanto a mulher de vinte-e-nada aguardava no banco quase sem piscar, debilitada pelo fardo já de muitas semanas. O homem observava uma imagem em preto e branco e franzia o cenho como que tentando resolver um quebra-cabeça, ainda que fosse nítido o quanto aquela tarefa lhe era corriqueira. A espera fazia parte do ritual. Quando entendeu que já era hora, virou-se para a mulher e declarou: “parabéns, vai ser menino”.
Não sei se foi assim. Não sei nem se era assim que era feito em 1987. Provavelmente não foi, apesar de sempre parecer meio dramático quando eu tento imaginar. O fato é que ela tentou: quarto azul, roupinha “de menino”, nome condizente, todo o padrão. Não só ela, aliás. A declaração do médico é o toque geral para que se comecem os trabalhos: ela, meu pai, família, amigos, médicos, toda a sociedade empenhada em me tornar o homem que o pinto que eu trouxe de fábrica me autorizava a ser.
Eu não sou nenhuma especialista em questões de gênero e não sei dizer por que ou em qual momento isso falhou. Mas falhou. E todo esse processo social não conseguiu fazer com que eu me reconhecesse e me construísse homem.
Se eu não era homem, no entanto, aprendi logo que meu pinto também não me permitia ser mulher. Foi a construção dessa constatação, assim tão privada de informações mais responsáveis, que foi talvez gerando, gradativamente, os sentimentos de alienação e auto-ódio que a constância e o tempo iriam naturalizar. É um caminho até lógico de se fazer: se eu não sou nada do que reconheço ser possível existir, devo ser uma massa de carne que deu bastante errado.
Sempre achei difícil explicar alguns desses sentimentos para quem não os sentiu nesse contexto, descrever essa sensação de inexistência e de alienação de si. Faltavam termos para traduzi-los, também: eu sentia como se flutuasse numa espécie de limbo, num lugar onde as palavras e as referências que eu conhecia não se aplicavam e de onde eu me esforçava para conduzir o dia a dia como se estivesse jogando videogame. Toda interação que eu tinha me parecia artificial e calculada, já que eu falhava em encontrar referenciais que eu sentisse como sendo meus. Me sentia constantemente artificial. E, bem, eu era. Como ser espontânea se você não sente nem que existe?
A puberdade também não colaborou e chegou chegando, esfregando na minha cara, com as mudanças do meu corpo, o quanto eu não cabia ali. Foi também na puberdade que a sexualidade entrou na jogada e esse foi um elemento significativo do meu processo. Ninguém foge à norma à francesa: se você vai subverter a porra toda, precisa no mínimo de uma boa justificativa. “Como assim você não sabe quem você é? Você precisa saber o que quer!”
Bom, eu não sabia nada. Não sabia o que era transgeneridade, não conhecia transexuais ou travestis e havia aprendido, como todo mundo aprende, que travestis não são gente, mas personagens dos quais se ri na TV ou se taca ovo na avenida. Eu, contudo, conhecia gays. Estava ali o motivo, a justificativa que eu precisava: eu tinha um pinto, o que significava que eu só podia ser homem (sic), e gostava de homens, o que só podia significar que eu era gay (sic)! Erro feio, mas não sentia que tinha muito tempo pra pensar: eu tinha 13 e já passava da idade de não precisar dar porquês racionais para ser. E não vou mentir, isso me deixou eufórica no começo.
Foi também a primeira fuga deliberada. Quero dizer, se antes eu não tinha nada, agora tinha um porquê para dar – um artificial, pode ser, mas a essa altura o que não era? De alguma forma e sem certeza alguma, eu podia ao menos começar a falar de mim. Essa apropriação de uma identidade que me parecia um pouco menos violenta do que a que eu tinha em mãos foi o que permitiu que a personagem do meu game evoluísse e passasse de fase, como eu era cobrada. Permitiu que eu experimentasse mais a sociedade e com a segurança de quem sabe que é só uma personagem, de quem se protege na dissociação.
Digo que foi um elemento significativo também porque essa parte do processo teve a ver justamente com a invisibilidade e com os estereótipos cruéis que a transexualidade e a travestilidade têm.
O primeiro contato pessoal que tive com uma mulher trans foi aos 20 anos, quando conheci, pela primeira vez, um referencial que de alguma forma parecia me explicar, que era humano e real e que fazia sentido, ao contrário das personagens desumanizadas que nos são vendidas na mídia e nas mesas de bar. Foi aos 20 que fui capaz, pela primeira vez, de olhar no espelho e começar a me enxergar de fato – e que se ponha também na conta do patriarcado os 5 anos de negação que se seguiram a esse dia, com todas as suas fugas e adições. É também por isso, pelo ódio que criei dessa invisibilidade e dos estereótipos cruéis, que me propus emprestar um pouco esse espaço e compartilhar o meu processo.
Um quarto de século precisou correr para que eu decidisse que mereço existir, para que a necessidade de estar viva suplantasse os preconceitos e me fizesse entender que eu posso, sim. Mais: que a única forma é me olhar cara a cara e confrontar quem eu sou.
O médico errou: meu nome é Amanda e não fui menino. Ele e eu temos contas a acertar e se forem sádicos ou empáticos o suficiente, acho que vou apreciar companhia. Quem vem?
Leia outros textos de Amanda Palha e da coluna À Flor da Pele.
Ilustração: Gunther Ishiyama.