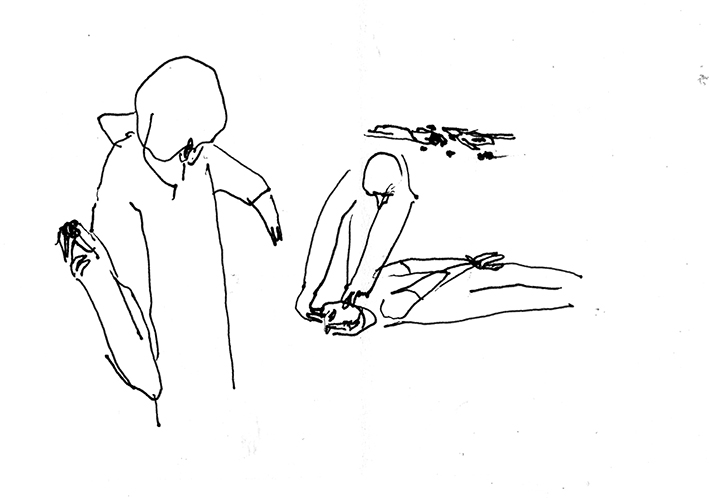instrumental
constituição de 1988, Instrumental, Larice Barbosa, Lia Urbini, número 16, política
Pensando a representação política
Que sonhos (e pesadelos) cabem nas urnas? Por Lia Urbini.
No mês de setembro, a proximidade das eleições e plebiscitos no Brasil e no mundo exige de nós posicionamentos em relação aos limites e possibilidades da participação política institucionalizada
O Brasil é politicamente apático?
Brasileiro é despolitizado? Povo do jeitinho, cordial? Povo sem memória, ignorante, do curral eleitoral e do voto de cabresto? José Murilo de Carvalho, historiador e cientista político mineiro, possui muitos livros dedicados a problematizar a imagem dx brasileirx como povo politicamente apático. Em Os bestializados, escrito em 1996, o autor argumenta que tal caracterização dxs brasileirxs frente às arbitrariedades do Estado não corresponderia à realidade, sendo mais uma construção discursiva para desestimular e não reconhecer as lutas populares por participação, tanto no passado como no presente.
Retomando momentos históricos importantes de luta e resistência popular, José Murilo menciona a Confederação dos Tamoios e os quilombos (que seriam as primeiras resistências negras e indígenas da Colônia com bastante registro historiográfico), juntamente com movimentos “messiânicos” dos séculos 18 e 19 (como as guerras de Canudos e do Contestado) como alguns dos exemplos de conflitos severamente reprimidos e que ousavam experimentar ou demandar condições muito básicas de existência.
Se avançamos para os dias de hoje, vemos que, em plena época “globalizada” e na vigência do chamado “Estado democrático de direito”, enfrentamos um nível absurdo de truculência, descaramento e abuso deliberado da força policial. Essa situação se materializa nos diversos massacres contemporâneos da população negra, indígena, periférica, LGBT, feminina, encarcerada, sem-teto, sem-terra e trabalhadora, que procura sobreviver, da maneira como pode, em um dos países mais desiguais do mundo.
“Quem não reagiu está vivo.” A frase do governador de São Paulo, em defesa da polícia que extermina sem julgamento, é um símbolo de como é normalmente tratada a “reação” ao estabelecido. Reação de “infratores”, como traficantes de drogas e assaltantes, às abordagens policiais, mas também reação a qualquer desafio à ordem excludente, incluindo aí a contestação dentro da lei de indivíduos ou coletivos tentando fazer valer direitos básicos, assegurados constitucionalmente. Nesse sentido, é possível e necessário encontrarmos na nossa história de ontem e de hoje outros argumentos para compreender a relação atual dx brasileirx com os assuntos públicos. Mesmo que a conclusão final possa ser a de que, em geral, temos uma população desinteressada pela política, parece bastante relevante entender o processo que leva pessoas em muitos casos a não confiar no direito, na polícia, na palavra, e por consequência, na política profissional tal como ela tem se dado.
Brasil politicamente atrasado?
Mídia, polícia e escola viciadas e opressoras, trabalho precarizado ou desemprego, ônibus lotado, hospital abarrotado e sem condições mínimas de atendimento. Pouco tempo, espaço e condições para lazer e formação extraescolar, inclusive formação política. Lógica da penalização, hierarquia, militarização, dos poderes concentrados. Essas são as condições de vida da maior parte da população. Tudo isso nos educa dia a dia contra uma esfera pública democrática e participativa. Contra uma sociabilidade do diálogo e da cabeça fria. Mas uma esfera pública dialógica, participativa e “racionalizada” seria uma “ideia fora do lugar” para o contexto brasileiro, supostamente passional, passivo e espontaneísta? Configuraria um sonho inatingível para a nossa cultura política?
No livro Ao vencedor, as batatas, do crítico literário Roberto Schwarz, encontramos uma argumentação excelente sobre tais “ideias fora do lugar”. O autor comenta o aparente paradoxo do Brasil do século 19, de ser uma sociedade que, ao mesmo tempo em que importava os ideais liberais do “primeiro mundo”, mantinha como base de sustentação de sua elite intelectual o próprio sistema escravista contra o qual o liberalismo parecia investir. A crítica mais imediata seria considerar absurdo importar um ideal sem bases correspondentes de praticá-lo, mas seu argumento é outro, interessante, e que parece poder ser estendido para a situação política atual.
O problema dessa interpretação (de que o liberalismo seria uma ideia fora de lugar no Brasil porque este não seria um país com condições para essa ideia), segundo Schwarz, é a de não considerar que o próprio liberalismo seria insustentável no seu “lugar original” – as nações ricas – se elas não pudessem contar com a transgressão desses ideais pelo mundo afora, como um oposto complementar. Em outras palavras, para que a Inglaterra se transformasse em uma nação de sujeitos livres, ela precisou vivenciar uma condição na qual grande parte de sua população pudesse ser expulsa de suas terras até ter constituído cidades que pudessem oferecer industriais empregadores e trabalhadores para mão de obra assalariada.
Essa condição tem tudo a ver com a posição daquela nação no mercado mundial da época (passando de país saqueador para um país que compra matéria-prima e vende produtos manufaturados) EM RELAÇÃO de dependência, desigual e combinada, com os países periféricos. Portanto, o que daria condições reais das ideias liberais se desenvolverem nas nações centrais seria a possibilidade destas jogarem os seus problemas maiores, a barbárie, o trabalho sujo, a escravidão, para longe de suas fronteiras, se achando mais avançadas e mais progressistas por já não possuírem, dentro de seus territórios, relações sociais nas quais as pessoas eram literalmente tornadas mercadorias.
Algo mais mediado, teoricamente atravessado por relações de direitos e deveres regulamentadas por contratos negociados em pé de igualdade para ambas as partes, passava a ser o desejável, o civilizado, o mais avançado. Outra vez, na história mundial usualmente contada a partir do considerado centro do mundo (o centro do dinheiro), é essa a população protagonista. Protagonista das lutas pelo voto feminino, pelos ideais do trabalho livre e assalariado. Pelas relações impessoais, racionalizadas, institucionalizadas. Democráticas e inclusivas. Aos territórios que por séculos sofreram sendo a posição inferior nas relações das vantagens comparativas no mercado mundial, coincidentemente em posição também inferior nas relações das vantagens comparativas no mercado dos direitos individuais e coletivos, resta correr atrás do tempo perdido até construir, em seus espaços, as condições “avançadas” do centro. Sem rancor.
Se trazemos essa análise sobre desenvolvimento, direitos, participação e democracia para o contexto de hoje, podemos repensar a imagem do Brasil clientelista e corrupto, sem “clima” para uma real democracia, explicado por características culturais da sua população. Assim como problematizar se a grama do vizinho rico é mesmo tão verde assim, e com que estrume foi adubada … De modos diversos, talvez difusos, os educados pela pedra muitas vezes antecipam esse pé atrás com a democracia idealizada por viver num mato mais complexo, menos artificialmente delimitado.
Reflexões sobre a questão da representação política
Depois dos apontamentos anteriores acerca dos sensos comuns do brasileiro politicamente apático ou politicamente atrasado e provinciano, proponho problematizar a questão da representação política em nosso contexto “democrático” atual. O que significaria dizer que nossos sonhos não cabem nas urnas de hoje? Que este sistema político não nos representa? A quem ele representa, e como nos representar? “Pelo fim da representação”? Sem a pretensão de responder a essas questões, gostaríamos ao menos que elas pudessem ser consideradas para além dos clichês estabelecidos no campo dos discursos políticos, trabalhando por fim com esse termo cheio de significados.
“Representação” é um tema bastante discutido na filosofia e nas ciências sociais, ainda que algumas vezes de maneira técnica, quase como um problema de lógica. Especificamente a representação política é uma prática usualmente associada à democracia representativa. Nesse modelo de decisões, xs representantes eleitos possuem um mandato político que os autoriza a tomar decisões em nome dos cidadãos votantes, por um determinado período de tempo e de acordo com regras pré-estabelecidas de prestação de contas. A palavra se conecta com o sentido de uma pessoa se apresentar no lugar da outra, de maneira autorizada. É um modo de fazer presente o ausente, instrumento cada vez mais útil, e ao mesmo tempo trabalhoso, para viabilizar tomadas de decisões coletivas em grandes grupos.
Algo diferente se passa com a “participação”, normalmente associada à democracia direta, na qual está presente a ideia de “um homem, um voto”. Esse lema é bem antigo, tendo a ver com o clima de Atenas, onde de fato só homens livres eram considerados cidadãos, e portanto votavam; ao pensar essa ideia para os dias de hoje, entende-se que ela pode ser melhor traduzida como “um cidadão, um voto”, compreendendo por cidadão todxs legalmente habilitadxs para votar. Na democracia direta as decisões são tomadas em assembleias e xs representantes, quando são necessárixs, recebem a delegação do poder de acordo com a assembleia, podendo seu mandato ser revogado a qualquer momento.
A distinção entre democracia representativa e direta não exclui misturas entre as duas. No caso da Constituição brasileira atual, assim como em grande parte dos regimes democráticos de hoje, combinam-se práticas relacionadas aos dois modelos. Os mecanismos de participação popular no estilo da democracia direta da Constituição de 1988 são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, e coexistem com os demais mecanismos representativos.
Alguns cientistas políticos como Adrian Lavalle e Ernesto Vera interpretam que, entre os anos 1970 e 1980, principalmente na América Latina, teria havido, por parte dos críticos ao modelo estabelecido, uma aposta pela ampliação da participação como modelo alternativo da democracia liberal. Isso teria se dado uma vez que a representação, como aplicada, favorecia a subrepresentação dos interesses de diversos setores sociais. No Brasil, o contexto de eleições indiretas reguladas por militares conectados com o empresariado no poder aprofundavam o caráter autoritário e antidemocrático do ambiente político, caracterizando um regime de exceção. Mas depois dos anos 80, o debate em geral teria se transformado, com o fim da maior parte das ditaduras civil-militares e formas de participação embutidas em parte das constituições de democracia representativa latino-americanas. Não faria mais sentido, a partir de então, positivar a participação por si. Ela seria compreendida como complementar à representação, e dos 1990 para cá a tarefa seria melhorar as relações entre representação e participação.
Para entender como essa narrativa foi construída, inclusive com a ajuda da repaginada nos termos sobre política, é importante dizer que, até os 80, participação normalmente era acompanhada do termo “popular”, em oposição aos atuais “cidadã” ou “civil”. Sociedade civil ou cidadania teriam sido escolhidos para substituir o “popular”, que se aproximaria de “populismo” e da tirania da maioria, que em muitos contextos serviu para oprimir setores minorizados. Mas, segundo críticos como Evelina Dagnino, Chico de Oliveira, Paulo Arantes e outros, essa substituição serviu também para conferir uma certa universalização e abstração ao termo, sem que na palavra esteja contida a ideia da população como algo não uniforme, heterogêneo, recheado de conflitos.
A quem serviria uma pacificação e harmonização dessa história? A quem interessou e interessa a ideia de transição lenta e gradual para a atual Constituição Cidadã? É evidente que poder votar e acompanhar os mandatos apoiados por legislações muito mais abertas que na época da ditadura é uma conquista importantíssima, mas estamos fechando os olhos para muitas coisas ao endossarmos narrativas otimistas que não se alarmam com a atual versão autoritária, excludente e repressora do Estado hoje, ainda que chamado de “democrático” e “de direitos”. Por fim, temos que lembrar que as ditaduras muitas vezes não se autodeclaram regimes de exceção. Participação e representação precisam ser compreendidas, portanto, em seus contextos, pois uma análise puramente técnica ou jurídica apaga dimensões essenciais da análise.
Representação e participação em contexto: diversidade brasileira democraticamente representada?
Esperamos que, com o que temos até aqui, seja possível concluir algo aplicando essas considerações aos últimos eventos políticos de grande escala, os plebiscitos e as eleições. O tópico anterior procurou indicar as bases para a compreensão de que nem sempre os mecanismos representativos são, por si só, piores do que os participativos, já que em termos de inclusão e pluralismo a representação pode ser uma arma mais criteriosa que a participação direta. Principalmente porque mecanismos representativos podem ter a vantagem de garantir, em determinados contextos, que uma posição tenha espaço para se expressar mesmo sendo defendida por poucas pessoas, afinal nem toda decisão tomada pela maioria é necessariamente a mais “democrática”.
No entanto, do modo em que a política institucional está organizada (refém de bancadas de interesses; em crise de fidelização partidária; muito mais caracterizada por atuações individuais do que pelo cumprimento de programas dos partidos; contaminada por coalizões esdrúxulas justificadas pelas estratégias de governabilidade e pela política do possível; condicionada pelo poder econômico das grandes empresas, ajudadas pela mídia e igrejas), interesses de minorias que concentram o poder são garantidas pelo atual sistema representativo, que aí sim não nos representa. Faz-se necessário então construir um poder que represente os não-representados, mal representados ou sub-representados no esquema de hoje, agindo contra a concentração de poderes. E, nessa conjuntura, as apostas maiores parecem ser de construção via participação.
Seja em termos mais técnicos, como a variação do peso do voto de cada eleitor de acordo com seu estado de origem, seja em termos de características gerais da população, a diversidade brasileira não está representada. Segundo dados do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), mais de 70% dos políticos são fazendeiros e empresários, sendo que maioria da população é composta de trabalhadores e camponeses; 9% são mulheres, sendo que as mulheres são mais da metade da população brasileira; 8,5% são negros, sendo que 51% dos brasileiros se auto-declaram negros; menos de 3% são jovens, sendo que estes representam 40% do eleitorado do Brasil.
As manifestações de junho do ano passado, assim como outros protestos pelo mundo, reiteraram o incômodo e questionaram a narrativa acadêmica dominante sobre a participação como debate ultrapassado. E algumas iniciativas procuram organizar uma reação à pouca participação e à sub-representação. Considerando estes termos em contexto podemos entender, portanto, algumas das limitações de manter a discussão em termos apenas técnicos e formais.
No Brasil todo ocorreu neste setembro a votação do Plebiscito popular por uma constituinte exclusiva soberana do sistema político. Iniciativa da Plenária Nacional dos Movimentos Populares, contou e conta com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT), a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), além de muitas outras entidades camponesas, negras, de juventude e de trabalhadores na construção da campanha pela reforma política. Dentre as propostas dessa reforma política estão mudanças no financiamento de campanhas, fim das coligações proporcionais, paridade de gênero, diversidade da população e aprofundamento da democracia direta e participativa.
Por não ter sido convocado pelo governo, o plebiscito não possui valor legal, assim como outros também puxados por movimentos sociais, como o plebiscito contra a ALCA ou sobre a dívida externa, mas, ao serem realizados, procuram pressionar as instâncias responsáveis, explicitando a posição de grande número de pessoas em relação a uma dada questão. Quase 8 milhões de pessoas votaram, apesar do silêncio da grande mídia em relação à campanha, e desse número, mais de 97% foram favoráveis à Constituinte Soberana. A votação, que reduz as posições à expressão de acordo ou desacordo em relação à determinada proposta, foi precedida por um ano de atividades formativas específicas, e buscou aprofundar o debate sobre a reforma política com o processo do plebiscito.
Já na Escócia, houve um plebiscito sobre a independência, chamado pelo governo. Ele interrogava a população escocesa sobre a manutenção ou alteração das relações do país em relação ao Reino Unido. Nas condições atuais, o espaço de decisão dos escoceses é dividido, e muitas vezes de maneira bem desigual, com políticos britânicos. Com a maior participação em eleições desde que se iniciou o voto feminino no país, em 1928, a proposta pela independência perdeu, com 45% dos votos a favor. Movimentos como o Radical Queer Independence e o Yes LGBT incentivavam os votos favoráveis, mostrando que não se tratava de uma campanha de caráter nacionalista, como muitas vezes as questões independentistas são tratadas. Interesses financeiros como a estabilidade da moeda e os recursos do petróleo influenciaram bastante nas escolhas finais da população. Mais jovens votaram pelo sim, mais pensionistas votaram pelo não. As posições pró-imigração dos favoráveis à independência também assustaram a população média, e os independentistas agora se articulam para continuar as lutas por maior participação política mesmo com a vitória do não.
Tais plebiscitos parecem oferecer formas de se posicionar sobre assuntos comuns pela via da participação, buscando melhor representação. Independente dos resultados das eleições deste ano, xs candidatxs farão sua performance representativa com mais esses dados sobre o descontentamento com a subrepresentação dos interesses dos setores minorizados. É tarefa de campanha, assim como de pós-campanha eleitoral, por parte dos representantes e dos representados, mesmo e ainda mais dxs que não se sentem representadxs, trabalhar pela presentificação dos seus interesses na arena política.
As estratégias são várias. Tem gente que vota nulo, ou não vota, mas fortalece localmente grupos de resistência, visando a transformação dessa macropolítica pela expansão de experiências alternativas de vivência coletiva plural. Tem gente que vota estratégico, considerando que não está nas urnas a principal forma de transformação, mas que de qualquer modo, mesmo do jeito em que está, as eleições não podem ser simplesmente ignoradas. Tem quem aposte em criar contra-bancadas para combater as bancadas políticas de hoje. Tem muita coisa, e ninguém sabe exatamente no que cada escolha pode dar. O que parece mais certo é que informações mais precisas sobre o assunto nos ajudam a elaborar melhor nossas avaliações, e em favor disso a gente procura escrever e trabalhar. Afinal, a desconcentração da mídia e a desconcentração do saber acadêmico podem alterar bastante o cenário atual.
Referências:
– Glossário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral
– Bom texto sobre a conexão entre reforma tributária e desigualdade social.
– Análise do IPEA sobre 20 anos da Constituição de 1988, oficial mas útil:
– José Murilo de Carvalho, Os Bestializados – O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo, Companhia das Letras, 1996.
– A trama da crítica democrática: da participação à representação e à accountability. Artigo de Adrian Gurza Lavalle e Ernesto Isunza Vera na Revista Lua Nova.
“Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil”. Artigo de Evelina Dagnino, publicado no livro Sociedade civil e espaços públicos no Brasil, organizado pela mesma autora.
Leia outros textos de Lia Urbini e da seção Instrumental.
Ilustração: Larice Barbosa