memória & política
aids, Bruno O, família, feminicídio, hiv, memória, número 18, Paloma Franca Amorim, patriarcado, política, relato
Aids e feminicídio
Não existem boas famílias. Por Paloma Franca Amorim
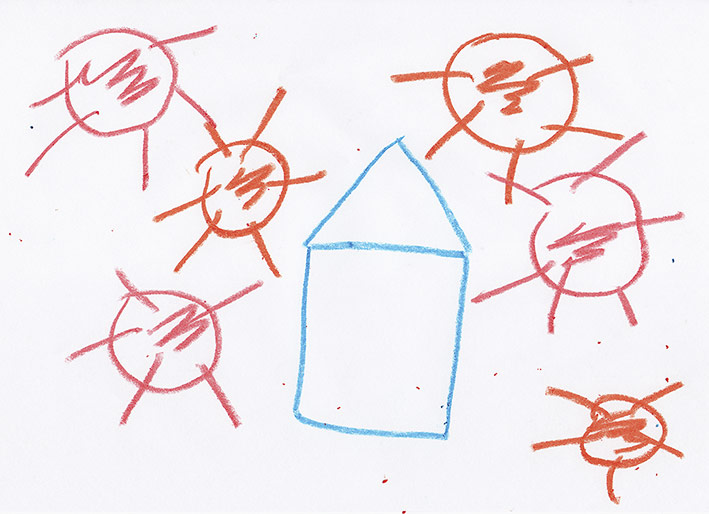
Até hoje eu me lembro das cigarras trinando no entardecer da praça Batista Campos. O arvoredo da praça tão escuro, àquele momento prenhe de mistérios, compunha o cenário ideal para os meus temores mais ridículos de menina.
Era domingo e em uma chamada do Fantástico os apresentadores anunciavam matéria completíssima sobre a AIDS e o vírus HIV. Eu chorei sobre o colo de meu silencioso pai e disse: eu tenho medo que essa doença pegue a nossa família.
Era década de 90 e o processo social da AIDS começava a sair do registro de caça às bruxas característico da década de 80, calcado na perseguição aos homossexuais contaminados para que se justificasse o desejo de seu alijamento social encabeçado pelas classes normativas e pelo Estado, e se inaugurava uma era de compreensão científica e cultural do vírus HIV e da AIDS de modo a, paulatinamente, promover a inclusão da comunidade soropositiva na sociedade.
Minha mãe trabalhou como psicanalista em uma instituição chamada URE-AIDS (Unidade de Referência Especializada) em Belém do Pará. Dessa experiência de saber que minha mãe estava em contato com aidéticos, muitas vezes em fase terminal da doença, eu trago comigo uma sensação também ridícula de ansiedade cotidiana. Hoje eu compreendo que o radicalismo de minhas reações ao tema se deu por uma comunhão de fatores pessoais, internos, e de fatores externos na maioria das vezes de responsabilidade dos meios de comunicação e da forma como publicizaram compulsoriamente o tema.
A mídia no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando o paciente zero ficou notoriamente conhecido, desempenhou papel fundamental no alastramento social da estigmatização dos portadores de HIV.
A capa antológica de Cazuza em estágio avançado da AIDS na revista VEJA no ano de 1989 evidencia historicamente o tratamento dado pelos meios de comunicação hegemônicos à população infectada pelo HIV. O preconceito, a humilhação pública – sobretudo associada à punição da homossexualidade e da poligamia – e a discriminação deram o tom.
Outra imagem também resistente em minha memória é a da atriz global Cláudia Raia exibindo um exame no qual está constatada a sua soronegatividade. No rosto de Raia uma expressão de Estou limpa! – termo esse tantas vezes utilizado no que diz respeito ao resultado negativo de DST’s. A carreira da atriz na maior emissora de televisão da América Latina agradeceu de joelhos.
Estou limpa!
O contrário é estar sujo. Isso significa que portar o vírus HIV é um atestado de que o corpo é sujo. A contraface do alívio de quem escapou do vírus revela o atestado de morte física e social de quem não escapou. Essa análise maniqueísta e excludente se estende às práticas sexuais do portador visto que historicamente a AIDS é principalmente associada à prostituição e à homossexualidade. Pela perspectiva moral e higienista, esses são campos de atividade promíscua. Nesse sentido, a fala da jovem eu, Tenho medo que essa doença pegue nossa família, me faz refletir de modo a criar uma resposta tardia para aquela já distante menina:
– Não se preocupe, a boa família é imune ao vírus.
PARTE II
A família normal é o abrigo da tradição e dos privilégios patriarcais. Até mesmo a sociedade contemporânea ocidental, nas tentativas de redefinição do conceito para legitimar no sistema de parentesco situações como adoção e casamento entre indivíduos do mesmo sexo, adequa-se aos moldes históricos da família nuclear burguesa de modo a reproduzir um complexo hierárquico de costumes e atividades no qual a posição paternal se encontra no topo da pirâmide, seguida pelas outras funções parentais masculinas (irmãos, tios, primos) e, somente depois de passado o carro abre-alas do corpo viril surgem as mulheres em suas diversas funções familiares.
Engels em A origem da família, da propriedade privada e do estado nos fala que:
Em sua origem, a palavra família não significa o ideal filisteu de hoje, mistura de sentimentalismo e brigas domésticas. Entre os Romanos, a palavra originalmente sequer se aplicava ao casal e seus filhos, mas apenas aos escravos. Famulus quer dizer escravo doméstico e família é o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem. (…) Essa forma de família mostra a transição do casamento pré-monogâmico para a monogamia. Para assegurar a mulher e, por conseguinte, a paternidade dos filhos, a mulher é entregue incondicionalmente ao poder do homem. Mesmo que ele a mate, não faz mais do que exercer um direito seu. (p.60)
Essa estratificação da relação familiar vai basear o nascimento do ideal de família burguesa, ideal esse que impera e se alastra através dos tempos no seio das tentativas de ressignificação da família. Nesse sistema burguês de relações o valor político-institucional ultrapassa as próprias expectativas do componente humano, vivo e transitório. O único elemento da família nuclear que permanece no mundo e na história é a própria família nuclear. Vão-se os familiares, ficam os sobrenomes – passaporte patriarcal importantíssimo para o reconhecimento e respeito da família como elemento político da cultura social.
Para que seus pilares possam ser fortalecidos é fundamental que sua arquitetura se realize a partir dos referenciais sociais dominantes, isso é, a família nuclear burguesa se constituiu ao largo da história para realizar a manutenção da tradição moral e da propriedade privada.
No que tangencia a tradição moral, há que se destacar que as práticas da sexualidade familiar patriarcal se dão nos campos da monogamia e da heterossexualidade. Essa família está, nesse sentido, protegida de surtos epidemiológicos transmitidos por vias sexuais na medida em que a cama do casal institucional não é local de risco.
A boa família é imune ao vírus.
Esse pensamento vigorou socialmente durante boa parte da década de 80 e 90 mas a compreensão dele começou a se transformar a partir do momento em que os casos positivos do HIV começaram a resvalar o universo da sexualidade marginal e chegar na vida pública dos comuns. Homens e mulheres de família entraram para a lista de soropositivos – na maioria das vezes através de um processo bastante curioso: as mulheres começavam a manifestar os sintomas da AIDS e ao se descobrirem soropositivas, agora desconfiadas da blindagem da vida sexual regulada e monogâmica do casamento, percebiam que contraditoriamente compunham ativamente o seu grupo de risco: a boa família.
Seu esposo, pai de seus filhos, provedor do lar na incontestabilidade dos fatos tornava-se, a partir de então, física e socialmente o seu algoz.
PARTE III
Feminicídio é como se designa a morte de mulheres por motivação política. A luta contra o feminicídio se diferencia em alguns eixos da luta contra a homofobia pelo fato de, no sistema dominante da abordagem binária sobre os gêneros, as mulheres ainda serem consideradas inferiores aos homens social e politicamente.
A diversidade e a não normatização dos gêneros é um tema que na história do movimento feminista começa a aparecer mais enfaticamente a partir da terceira onda da teoria feminista que, sob o viés do pensamento pós-estruturalista, agrega a questão de identidade de gênero, construção social da masculinidade e a orientação sexual como bases também constitutivas da violência machista. Percebe-se portanto que homens que se associam à identidade feminina podem ser alvos de ódio e intolerância machista exatamente por, na medida da expressão da sexualidade, abdicarem de privilégios construídos à órbita do universo masculino.
Nesse sentido, a violência contra homossexuais masculinos, transsexuais, transgêneros e travestis também seria resultante de uma investida misoginia, isso é, ódio às mulheres e à expressão de seus símbolos. Entretanto, é complicado não pormenorizar os casos de violência e afirmar que os atentados à vida de homens associados à identidade de gênero feminina configuram feminicídio. Isso porque em uma perspectiva de luta política, homossexuais masculinos e homens trans, por exemplo, muitas vezes involuntariamente conservam, no cerne das relações sociais, certos privilégios de gênero.
A problemática social das travestis ainda é mais complexa, são urgentes e necessários parâmetros específicos para que não se misturem estatísticas e exemplificações da violência homofóbica machista, evitando assim a dissolução de marcadores da diferença (raça, gênero, classe, idade, região) fundamentais à análise política.
A tendência à generalização, sobretudo no que se refere ao debate público da questão, pode resultar no esvaziamento das reivindicações por direitos específicos das citadas categorias nos pleitos institucionais. É oportuno para o Estado que tudo se encaixe num mesmo projeto legal, isso significa transformar as lutas das mulheres, da comunidade homossexual, das travestis, do movimento negro, dos pobres etc., em uma única questão humana. Esse caminho é mais simples do que aquele que toca nas especificidades legais desses segmentos organizados. Quem se beneficia da generalização humanista da sociedade é a camada branca, heteropatriarcal que historicamente forjou os preceitos neutralizadores que compõem os Direitos Humanos – projeto ético universal, formulado na Europa no século XIX, que afirma sistematicamente uma pretensa igualdade entre os povos para apaziguar contextos nos quais uns são mais iguais do que os outros, uns são mais humanos do que os outros.
Ora, existem então espaços em que se tornam realizáveis os inúmeros pressupostos reguladores da heterossexualidade e do patriarcado que medeiam a relação das mulheres com o mundo. A casa de família é um deles, e se a família patriarcal gerencia o comportamento de anulação política e social da voz das mulheres, estamos aqui falando que a incidência histórica do vírus HIV entre mulheres casadas resultantes de relações extra-conjugais não seguras de seus companheiros é a concretização na sociedade, como macroesfera e como terreno de atividade subjetiva, da morte das mulheres. Feminicídio.
Percebamos aqui que esse texto não surge em prol da manutenção de uma moral envolvendo as relações entre marido e esposa. Não é o adultério que aqui se polemiza e sim a falta de cuidados básicos necessários para que se evite a transmissão de DST’s para as integrantes do processo relacional que não puderam, pelas questões históricas e estruturais apresentadas, escolher estar envolvidas ativamente no comportamento poligâmico.
A boa família começa a ruir e, olhando por entre os seus escombros, já não é possível afirmar que entre as quatro paredes do lar patriarcal a sexualidade, o sexo e as doenças sexualmente transmissíveis não existem.
PARTE FINAL
Eu sempre fui uma pessoa cuidadosa com o meu corpo, sempre tive orientação para não permitir que ninguém me obrigasse a fazer nada que eu não quisesse, para não deixar que uma cantada de rua passasse como atitude natural e cotidiana.
Nunca fiz parte de nenhum grupo de risco embora não tenha me sentido em nenhum momento desagradada com a possibilidade de ter muitos parceiros sexuais.
Há mais ou menos dois anos, mesmo com todos os ensinamentos feministas que me foram dados, eu fui vítima de um estupro. Entrei para as estatísticas. E mais uma vez a certeza de que eu não era a responsável pela situação foi colocada em xeque desde a abertura do Boletim da Ocorrência na Delegacia da Mulher até os últimos depoimentos para encerramento da investigação.
A filha da boa família agora estava com o corpo maculado e era como se toda a minha espécie tivesse sido jogada na lama junto comigo. Não suficiente o fato de eu ter sofrido uma violência sexual, ainda se fazia necessário pensar em como minha mãe teria vergonha de mim, ou como o meu pai se sentiria se soubesse que a caçulinha dele tinha caminhado pela rua em horários pouco indicados para as filhas da boa família.
Eu não fiz nada, e nem deixei de fazer. Isso não me torna menos vítima.
Ao chegar ao Hospital Pérola Byington (em São Paulo, Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 683 – Bela Vista) fui direcionada para fazer os procedimentos necessários à apuração do estupro e de cuidados com a vítima. Fiz exames sexológicos e logo em seguida uma médica me atendeu e me passou uma série de remédios para evitar doenças sexualmente transmissíveis e a pílula do dia seguinte – todos esses remédios eu peguei gratuitamente durante os meses de tratamento no Pérola. Dentre essas medicações estava o famoso coquetel do qual eu só ouvira falar pelos canais de televisão. A médica me falou com muito cuidado: há alguns anos não seria possível apagar todas as marcas de uma violência como a que você sofreu… Pelo menos as físicas são apagáveis.
Para as DST’s eu tomei uma vacina que me imunizava da maioria delas. Para a Hepatite C eu tive de tomar três doses de vacina, com o espaço de três meses entre cada uma – na última dose, a enfermeira que me aplicou a injeção no posto de saúde, muito mal humorada, perguntou se eu estava tomando por causa da minha tatuagem. Já sem muita paciência para os rituais da boa vizinhança respondi: eu fui estuprada.
Para me prevenir do HIV eu tomei durante um mês uma combinação de quatro medicações chamadas Zidovudina e Lamivudina (Biovir) e Lopinavir e Ritonavir (Kaletra). Duas vezes ao dia. Antes de cada dose, pelo menos meia hora antes, eu precisava tomar remédio para o estômago e me alimentar bem para não vomitar os comprimidos. Eu me lembro de sentir o cheiro das medicações e pensar na bomba química que eu estava enfiando no meu corpo para poder me prevenir do contágio.

Até hoje é meio complicado falar sobre isso. Acho que escrever é um meio de libertação. Mas nem tudo que se produz de material sobre a AIDS dá conta de suas ressonâncias na sociedade, do ponto de vista da saúde pública, dos estigmas recentes em torno do HIV e da saúde mental de quem entra em contato com o vírus. Eu li em algum lugar que nos últimos 20 anos houve uma mudança de perfil de infectados, foram alterações ocorridas no interior de duas categorias de transmissão – a sexual e a sanguínea. Foi constatado um decréscimo de casos no estado de São Paulo mas o Brasil ainda é um dos países com maior número de casos. Também li numa revista há alguns anos que alguns infectologistas particulares já prescrevem o coquetel preventivo para as pessoas que numa noitada se descuidam e se esquecem de usar camisinha, na matéria o que predominava eram depoimentos de rapazes falando que beberam além da conta e por isso procuraram a prevenção – era esse o tônus da matéria, muito machista e apontando a AIDS, nessa era pós-AZT, como uma derrapada alcoólica dos caras.
Mudam-se os tempos, muda-se o grau de fatalismo sobre a doença, mas ele continua ali, respirando no machismo de todo dia, de todo século. A AIDS no corpo da mulher no Brasil, salvo as raras exceções, é a materialização de um projeto de mundo que não ama as mulheres. E não existem boas famílias.
As cigarras no entardecer da praça Batista Campos permanecem construindo no meu coração uma das imagens mais melancólicas de minha coleção. Era tanta angústia. Eu ainda tenho muita coisa pra falar pra jovem eu, ainda bem que não se pode voltar no tempo.
Leia outros textos de Paloma Franca Amorim.
Ilustração: Bruno O.
