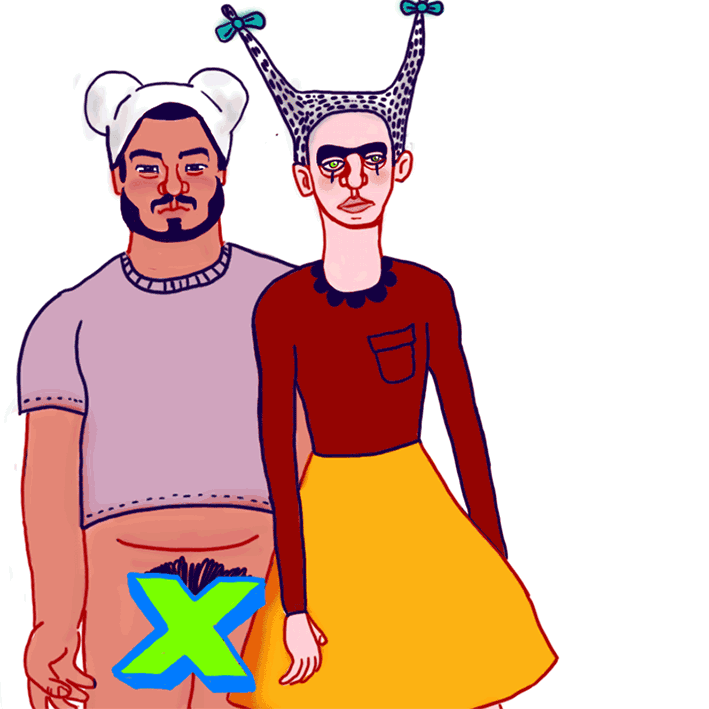debate
debate, Geni, Gunther Ishiyama, heteronormatividade, laranja, linguagem, linguística, machismo, Marcos Visnadi, número 3, uso do x
Minimanual dx guerrilheirx linguísticx
O uso do x para rasurar o binarismo de gênero na língua portuguesa. Por Marcos Visnadi
Era um debate sobre feminismo, acho, numa calourada da Universidade de São Paulo (USP), onde fiz a graduação em letras. Meu papel era mediar a mesa, composta por um homem, duas ou três mulheres (já faz um tempinho, não condenem minha memória) e uma travesti (a querida Janaina Lima, colunista da Geni). Ou seja, uma pessoa com identidade de gênero masculina, três (ou quatro?!) pessoas com identidades de gênero femininas. Até aqui, tudo certo?
Quase tudo. Como bom conhecedor da língua portuguesa (ã-han), abri a mesa apresentando “os debatedores”. E, logo na primeira fala, levei uma bela de uma lapada dA debatedorA. Foi Rita Quadros, se não me engano, da Liga Brasileira de Lésbicas, quem me deu uma das broncas mais simpáticas e marcantes que já levei na vida. “Não estou culpando você”, ela disse, assim que me viu querendo gaguejar uma desculpa. “Só estou falando isso para a gente perceber como, até na nossa língua, nós invisibilizamos as mulheres. Mesmo num momento como este, de combate ao machismo.”
Quer dizer que a nossa língua é machista? Não fui o estudante de letras mais exemplar, então temo deixar a desejar nos argumentos teóricos. Mas nós somos machistas, certo? O machismo é o sistema em que nós vivemos, e combatê-lo não significa estar imune a ele. O patriarcado sustenta e recheia o nosso cotidiano. Talvez possamos dizer do machismo o que Fernando Pessoa disse da língua portuguesa: ele é nossa pátria.
A língua do pai
“Pátria.” A palavra deriva do latim pater, pai, e remete mais precisamente à expressão terra patria, a terra do pai.
Isso me lembra o filme dos irmãos Taviani, Pai, patrão, de 1977. Ele se passa na Itália rural, na Sardenha, em meados do século 20, e conta a história de um menino analfabeto que tem um pai autoritário e violento, que o mantém isolado no campo, trabalhando como pastor. Quando sai de casa para servir ao exército, esse rapaz, que até então só falava o dialeto sardo, tem contato com a educação estatal, e para isso precisa aprender italiano.
É no aprendizado dessa língua que ele chega às palavras do título, padre (pai) e padrone (patrão), próximas no vocabulário e na função social. Tanto em italiano como em português, elas derivam da mesma palavra latina, o já mencionado pater, que dá origem também a patronus, de onde vem “patrão” e que pode designar tanto um protetor quanto um proprietário (de terras, de pessoas).
O conhecimento da língua é fundamental para a emancipação de Gavino Ledda, o linguista cujo romance autobiográfico inspirou o filme dos Taviani. É com esse conhecimento que ele se livra do jugo paterno, deixando a terra patria e alcançando a sua própria. E é conhecendo a língua que Ledda percebe as várias facetas do pai, predestinado a ser patrão pela própria condição vocabular da paternidade.
As pedras do português
Mas deixa eu explicar as digressões. Um dos muitos debates que temos na Geni, desde que começamos a pensar na revista, lá em fevereiro deste ano, é o do uso da linguagem. Não poderia ser diferente: a maior parte do nosso conteúdo é em texto escrito, e todo ele, em português. A pergunta que nos fazemos é: como lutar contra todas as opressões utilizando uma língua que carrega nela mesma as marcas da opressão, em particular a do binarismo de gênero?
Linguisticamente, a questão é cabeluda, e, não sendo linguista, não vou me meter nela. Uma ideia que parece recorrente e bem aceita no debate científico é a de que o português não se divide entre os gêneros masculino e feminino, mas sim entre a ausência de marcação de gênero (uma espécie de neutro, que coincide com o que chamamos de masculino) e a marcação de gênero propriamente dita (o que chamamos de feminino). Essa hipótese está bem exposta neste artigo do professor Sírio Possenti, da Universidade de Campinas.
Politicamente falando, a palavra “neutro” dá arrepios em qualquer pessoa que não a use a seu favor. Atribui-se ao arcebispo sul-africano Desmond Tutu uma frase que me parece certeira: “Se você é neutrx em situações de injustiça, você escolhe o lado dx opressorx”. A confusão que faço entre o “neutro” linguístico e o “neutro” político é proposital, porque os dois se confundem mesmo. A linguística, como ramo da moderna ciência de matriz europeia, geralmente pressupõe uma neutralidade da observação que a gente precisa questionar, sobretudo porque o neutro costuma coincidir, não por acaso, com o masculino (e branco, e heterossexual, e burguês etc.).
Em português, cinco homens debatendo são debatedores. Quatro mulheres e um homem debatendo são debatedores. E cinco mulheres debatendo são, enfim, debatedoras. Ora, é no mínimo questionável que as duas primeiras formas coincidam e que isso não seja um produto histórico-linguístico do machismo. É, no mínimo, digno de debate.
Guerrilha linguística
Há uns dez anos, pelo menos, começou a se tornar comum, a princípio em e-mails informais, o uso da arroba para incluir todx mundx entre xs destinatárixs. “Prezad@s”, a gente começava escrevendo, e nos movimentos estudantil e LGBT isso era praticamente uma norma, um sinal de respeito, e não fazia sentido escrever de outro jeito. A primeira vez que vi a arroba ser substituída pelo xis foi nos e-mails do pessoal do Colcha de Retalhos, grupo da Universidade Federal de Goiânia que organizou, em 2007, o 5º Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual (o Enuds, cuja 11ª edição aconteceu no fim do mês passado, em Matinhos).
Graficamente, a substituição da arroba pelo xis tem muita razão de ser. O símbolo da arroba, composto de um A e um O (ou seja, as duas marcas mais evidentes de designação de gênero em português), ainda é binário – e, diz a Lia Urbini, flagrantemente machista, pois o O envolve o A.
Já o xis é praticamente uma rasura, uma negação explícita desse binarismo machista. Ele causa um baita estranhamento, dificulta, trava a leitura. E é justamente essa a intenção! Interromper o automatismo do nosso olhar, mexer na zona de conforto é um jeito de chamar a atenção para relações de violência que passam despercebidas, que são legitimadas sob a carapuça da naturalidade – ou da neutralidade.
Obviamente, trocar uma letra de algumas palavras não vai, por si só, fazer ruir o patriarcado. E, mesmo no âmbito da linguagem, essa é uma decisão que se restringe à escrita, ficando inviável na fala. Mas, de todo modo, é uma estratégia pontual que temos usado na Geni – e que este texto abre pra debate. Nossa intenção é publicar, nos próximos números da revista, outros textos sobre o assunto. E ouvir, nos comentários aí abaixo, o que você, queridx leitorx, pensa sobre o tema.
Leia outros textos de Marcos Visnadi.
Ilustrador convidado: Gunther Ishiyama.