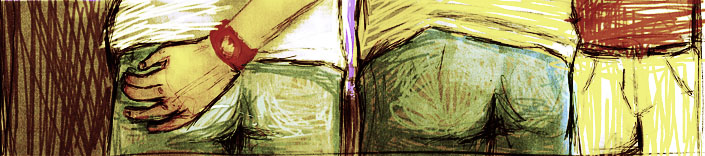entrevista
aids, Emilia Santos, entrevista, grupo Somos, Gui Mohallem, João Silvério Trevisan, Lampião da Esquina, Marcos Visnadi, movimento gay, movimento LGBT, número 15, Pedro Pepa Silva
Ação direta
João Silvério Trevisan é um dos nomes mais importantes do movimento LGBT brasileiro – e não está em nenhum manual! Por Gui Mohallem, Marcos Visnadi e Pedro “Pepa” Silva
João Silvério Trevisan é cronista, poeta e o consagrado autor de quase uma dezena de livros de ficção, incluindo os romances O livro do avesso (1993) e Ana em Veneza (1995) e os contos de Troços e destroços (1998), todos ganhadores do prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro. Mas não é raro que sua faceta literária seja ofuscada por sua personalidade política. Afinal, Trevisan é também um dos principais nomes do movimento LGBT brasileiro.
Ele foi um dos fundadores do Somos, nosso primeiro grupo de militância homossexual, e do Lampião da Esquina, o primeiro jornal gay de circulação nacional. E é o autor do clássico Devassos no paraíso, extenso e pioneiro ensaio sobre a homossexualidade no Brasil, lançado em 1986 não só como um estudo, mas também como uma intervenção no cenário cultural e político daquele período conturbado, em que a aids era conhecida como o “câncer gay”.
Mas, mesmo com um currículo desses, Trevisan não é do tipo que se senta sobre a própria glória. Muito pelo contrário. Enquanto gesticula e ergue a voz, falando sem parar, ele aponta uma metralhadora discursiva contra adversários políticos de toda espécie, da polícia ao PT, de ex-companheiros de militância às atuais lideranças do movimento LGBT. Ele poupa apenas a força das ruas, especialmente das grandes manifestações de 2013, quando, segundo ele, “nós cagamos fora das regras, nós cagamos fora dos manuais. Nós não sabemos, nós não temos respostas, mas eu sempre acreditei que é necessário que se façam as perguntas certas antes de dar as respostas certas”.
Nesta entrevista exclusiva para a Geni, o escritor, intelectual e militante que transformou a cara da homossexualidade no Brasil relembra o passado, quebra tudo no presente e declara: “talvez eu pertença ao futuro”.
A gente veio pra cá conversando sobre uma entrevista sua pra revista Caros amigos de outubro de 2000. Achamos interessante que num trecho você falava que a visibilidade trazida pela Parada LGBT deixaria políticos conservadores pouco à vontade em externar preconceitos, pois eles teriam que levar em conta a potência dessa gente tomando as ruas.
Ah, eu me lembro dessa reflexão. [A visibilidade] Não era mais uma coisa teórica, estava nas ruas, com RG e tudo. Esse cara [o político conservador] teria que repensar. É verdade.
Como entender a atuação de políticos religiosos que hoje não têm mais a preocupação de falar publicamente contra a homossexualidade? O que aconteceu nos últimos 14 anos pra mudar essa situação que você comentava?
Eu acho que o fortalecimento da bancada evangélica tem a ver com a ascensão do PT. É uma das coisas graves por conta da tal base governista. O que o PT tentou fazer foi acabar com a oposição. Ele criou uma base governista tão imensa que era uma tentativa de englobar a oposição. Quer dizer, tudo que poderia ser seu inimigo, você tem como parte da base governista. E, com isso, o PT conseguiu obviamente se manter no poder, só que ele se descaracterizou. Não só se descaracterizou brutalmente, como elevou ao pináculo uma série de partidos ou núcleos ideológicos conservadores de direita e perigosíssimos, como é o caso da bancada evangélica.
A bancada evangélica não nasceu por conta do PT – obviamente seria uma idiotice dizer isso. Mas ela conseguiu um status, que ela tem hoje, levada pela onda do poder, da tomada de poder do PT.
Sem contar as perigosas moedas de troca na relação entre política e religião…
Essa questão toda da bancada religiosa, a mim, me perturba profundamente. Eu tenho muito medo do que poderá acontecer, porque toda eleição nós temos a ameaça de um fundamentalista disparar. Agora está lá esse pastor Everaldo-não-sei-das-quantas [candidato à presidência pelo PSC].
Mas nós já tivemos um vice-presidente de um partido religioso, que era o José Alencar. E não foi por acaso que o Lula, que é uma pessoa muito esperta, inseriu o José Alencar na posição que ele teve. Não foi apenas por ser um grande empresário. Foi por conta do partido que ele representava, ou do que o seu partido representava em termos ideológicos para aproximar outras posições, outros partidos e outros grupos.
Nós tivemos, mais de dois anos atrás, uma situação emblemática disso, que foi o tal “kit gay” [projeto Escola sem Homofobia]. Naquele ano, [a presidenta] tinha rejeitado o que o próprio [então ministro da Educação, Fernando] Haddad tinha criado – e que era bem na linha que o PT tem de fazer as coisas, de supetão, plum!, pra ver se dá certo. E os evangélicos protestaram, fizeram chantagem – que aliás é o grande esquema político deles, chantagear! Chantagear sobretudo um partido que precisa do apoio deles para dar continuidade a essa base governista que pretende ser um pacto nacional, um pacto político completamente equivocado, ao meu ver. Mas aí o que aconteceu com a presidenta? Ela veio a público dizer que o governo dela não ia fazer propaganda homossexual.
Disse que não faria “propaganda de opção sexual”.
Ela ainda usou “opção”. E eu fiquei passado! Como é que nós pudemos chegar a esse ponto? Um partido que se diz ligado a movimentos sociais, que tem uma história construída a partir dessas pretensões – e nem sempre pretensões efetivadas – de modernidade! E, de repente, na maior cara de pau, o que nós acabamos sendo? Reféns. Nós, homossexuais, e os direitos homossexuais, viramos reféns de uma situação criada por um partido de esquerda que, na hora que precisa, nos puxa o tapete. Ele [o partido] gosta de nos usar pra vender uma ideia de modernidade, mas ele só vai até certo ponto, quando precisa se articular enquanto partido.
“Nós, homossexuais, e os direitos homossexuais, viramos reféns de uma situação criada por um partido de esquerda que, na hora que precisa, nos puxa o tapete. Ele [o partido] gosta de nos usar pra vender uma ideia de modernidade, mas ele só vai até certo ponto, quando precisa se articular enquanto partido”
Uma característica desse governo parece ser a necessidade de sempre evitar o embate, o conflito, né?
Pra manter a base governista. Pra manter o apoio. E não é só a base governista, mas o que o Lula fez com os banqueiros, os empresários, era uma tentativa de pacto nacional em que nada ia mudar. A Bolsa Família é apenas uma gota d’água nessa coisa de tentar trazer as camadas populares que vivem na miséria para uma situação de integração nacional, quando na verdade elas estão sendo usadas para uma perspectiva eleitoreira, que é o que acabou acontecendo, infelizmente. E a distribuição de renda dançou. Na verdade, o PT não tocou no problema de distribuição de renda. Então, é o que eu chamo de mistificações políticas. Nós estamos envoltos em mistificações políticas gravíssimas, e as bancadas religiosas fazem parte dessa mistificação.
Agora, João, olhando o panorama dos partidos políticos brasileiros hoje, parece que não tem muito para onde correr, né?
Eu não estou colocando nenhuma opção. Infelizmente, eu não vejo opção. Por isso, a minha felicidade ano passado, em junho. Aquela é a opção.
Como você vivenciou as manifestações de junho de 2013?
Eu chorava… Porque eu estava em tal estado de emoção! Estou esperando desde 1982 isso acontecer! Tudo o que nós tínhamos querido, pensado e buscado [naquele começo da década de 1980], de repente, sem mais nem menos, ninguém sabe por que, estava nas ruas. Eram centenas, milhares de pessoas, em vários lugares do Brasil, inclusive rejeitando as bandeiras dos partidos. E era uma coisa muito importante naquele momento, que era pra deixar o recado. A ideia de autonomia não era uma coisa apenas implícita, estava explícita em diversos cartazes, toda a questão da ação direta, o repúdio à política representativa que nós estávamos tendo no Brasil. E que, pra mim, se resume em um cartaz que eu vi quando fui na praça Roosevelt, numa manifestação específica em junho, contra o Feliciano: “Feliciano, meu cu é laico”.
Foi uma tomada de consciência coletiva, do ponto de vista político, quase milagrosa se a gente não conseguir ver o que já estava por trás de tudo isso. O que já vinha articulando essa eclosão de posturas libertárias. Acho ridículo quando vêm os assim chamados “intelectuais”… É que a intelectualidade de esquerda no Brasil baixou o nível. Quando a Marilena Chauí vai numa convenção do PT e começa a xingar a classe média, ela se esquece que ela é classe média. E a conclusão que eu posso tirar é que essa mulher não tem nenhuma autoestima, porque ela está xingando a si mesma, ou que ela se desconhece, não tem a mínima ideia do que ela seja.
A intelectualidade de esquerda brasileira sempre se achou acima do bem e do mal. Então, quando essa intelectualidade vem e diz: “Esse povo não sabe o que quer”, porra, pera um pouquinho! Quem são vocês? Vocês já foram atropelados por isso! Eles têm um cacoete de manual de esquerda, de que está tudo no manual. “Opa, isso aqui cai fora do manual”, “Isso não tem função”, “Isso não deve ser levado a sério”. E é exatamente isso que foi fantástico nas manifestações do ano passado: nós cagamos fora das regras, nós cagamos fora dos manuais. Nós não sabemos, nós não temos respostas, mas eu sempre acreditei que é necessário que se façam as perguntas certas antes de dar as respostas certas. E esses caras ficam querendo que as respostas caiam do nada!
Mas você acha possível romper algo novo a partir das manifestações, mesmo com todo esse aparato repressivo da polícia?
Eu morro de medo de fazer futurismos, de fazer previsões do futuro, mas acho que agora não tem mais retorno. O governo de esquerda, aliado com todos os governos de direita, se articulou para criar um esquema repressivo como nós nunca tivemos no Brasil, exceto na ditadura militar.
Eu fui recentemente até uma manifestação e fiquei pasmo… Havia uma coluna com quatro policiais militares margeando a manifestação, e em vários momentos havia mais policiais militares do que manifestantes. A Dilma não tem nenhum pejo em dizer “eu vou reprimir”, e ela chamou o exército, inclusive. Me lembro do tempo em que o PT tinha receio de mencionar qualquer possibilidade de importância da polícia militar –porque sempre houve essa tradição de criticar a polícia militar. Mas, de repente, o que estamos vendo? A polícia militar está sendo solicitada por um partido que se pretende de esquerda – porque não acho que tenha mais nada disso, e faz parte da mistificação vender a ideia que se trata de um partido de esquerda.
Então eu acho que a situação está a cada dia pior e, ao mesmo tempo, está a cada dia mais propício haver esse tipo de revolta popular. Como eu disse: eu não sou profeta, eu odeio fazer esse tipo de previsão – como os economistas fazem por aí todos os dias e dão com os burros n’água –, mas, a partir do que eu vi no ano passado, do que eu vivi no ano passado, quero crer que não tem retorno, que quanto mais a repressão vier mais haverá essa reação popular. E, quando eu digo reação popular, não me venham as tais esquerdas partidárias dizer que só havia classe média nas manifestações! E, se havia classe média, era uma classe média que estava sabendo do que estava acontecendo naquele caos, naquele bolo caótico politicamente. Eu não quero dizer que tenha sido uma manifestação da esquerda nacional, mas era uma manifestação popular, e isso tem que ser levado em conta.
Você falou que esperou desde 1982 esse momento…
Desde quando o Somos foi tomado pela Convergência Socialista, que depois se integrou ao PT, e o Somos foi para um diretório do partido no Bexiga.
O Somos havia surgido no fim dos anos 1970, não é? Como vocês se organizavam?
Eu fundei o Somos em 1978. Eu e meu namorado da época tentamos criar uma estrutura praquilo. Foi uma coisa dificílima, muito complicada.
Na época, nós pensávamos em criar um movimento social inédito no Brasil. Estávamos tateando o tempo todo, pisando sobre ovos, não tínhamos a menor ideia. Nós trabalhávamos com pessoas que tinham problemas gravíssimos de autoestima. Como é que essas pessoas iam chegar até um ponto de exigir seus direitos e constituir a ideia de que existem direitos homossexuais a serem conquistados se elas não tinham sequer a autoestima? Então nós criamos dentro do Somos uma ideia de que não existe liderança.
“Nós trabalhávamos com pessoas que tinham problemas gravíssimos de autoestima. Como é que essas pessoas iam chegar até um ponto de exigir seus direitos e constituir a ideia de que existem direitos homossexuais a serem conquistados se elas não tinham sequer a autoestima?”
Além disso, nós pensávamos que movimento social é autônomo. Ele não tem que se submeter a partido político. Se partido político quiser ser aliado, maravilha. Patrão, jamais! E tudo isso tinha uma proposta de ação direta, ligada à anarquia, à proposta libertária. Ninguém devia falar em nome de homossexuais! Chega! Já houve a época em que a igreja falava, psiquiatras falavam, a justiça falava. Agora, nós queremos que nós homossexuais tenhamos voz! E as lideranças homossexuais não têm direito de tirar a voz. Ainda que sejam vozes que estejam em aprendizado, elas precisam se manifestar dentro desse aprendizado, para que conquistem o seu espaço social e ideológico.
Essa era a primeira coisa. Então, nós tínhamos um esquema de diretoria rotativa. Havia vários grupos que constituíam várias áreas que nós pensávamos em atingir. Havia um representante de cada um desses grupos e esses representantes iam para um board, um grupo de diretoria, e havia um porta-voz, ou uma porta-voz, e a cada três ou quatro meses havia rotatividade disso, para evitar caracterização de liderança. Chegou até o ponto de eu sair do Somos por causa disso.
E nessa época já se pensava a questão da transexualidade e das travestis na mesma pauta?
Sim… Mas nós tínhamos muita dificuldade para chegar até as mulheres lésbicas e as travestis. O nível político das travestis era zero, rigorosamente, porque era uma população totalmente execrada pela sociedade brasileira, colocada no lixo. O que sobrava para as travestis era a prostituição e as drogas, mas, se vocês se lembrarem do Lampião, lá tem entrevistas com travestis, e tem matérias reportando as lutas aqui em São Paulo contra o [delegado José Wilson] Richetti, em que as travestis foram as mais visadas. O delegado e os policiais pintaram e bordaram com as travestis e eu me lembro que nós conseguimos fotos [disso]. Os policiais colocavam os peitos delas dentro da gaveta e fechavam… Não houve político de esquerda que estivesse ao nosso lado, exceto Eduardo Suplicy, que na época era deputado [estadual].
Essa questão das travestis hoje mudou muito, obviamente. Já há todo um movimento de politização que existe entre as travestis, e existem travestis que realmente compraram a briga, mas, enfim, na época era uma coisa complicada. Nós não tínhamos como chegar até as travestis, assim como tínhamos muita dificuldade de chegar até as lésbicas.
Vocês só tiveram apoio das lésbicas depois do lançamento do Lampião?
Nós tivemos, no primeiro ano do Lampião, uma ou duas lésbicas. Quando houve um debate na USP, e a plateia estava cheia de lésbicas e de bichas, é que as pessoas vieram até a nossa mesa. Aliás, vocês sabem como foi o debate? Eu considero um grande momento da minha vida, que me deixa muito feliz quando eu lembro disso.
O grêmio das Ciências Sociais na USP quis criar uns debates com as assim chamadas “minorias”. Nós éramos minorias, assim como os negros, as mulheres, os índios e a então chamada luta ecológica. Assim, cada grupo teve uma noite. Na noite anterior, os negros tinham sido massacrados no debate! Porque a esquerda achava que nós queríamos dividir a esquerda, e a luta prioritária era a luta do proletariado pelo socialismo. Quando viesse o socialismo tudo seria resolvido, seria uma varinha mágica! Tchum!, e aí você deixou de ser machista. Tchum!, e você deixou de ser racista. E nós estávamos literalmente nos cagando – estávamos com diarreia quando fomos à mesa.
Quando nós chegamos, saía gente pelas janelas, estava abarrotado! Começamos a falar e de repente começaram a pipocar essas mesmas críticas: “O homossexualismo é um vício burguês, é decadência burguesa, e vocês estão querendo dividir o movimento operário!”. E foi então que eu vi um cara que conhecia muito bem, pois ele tinha participado do grupo anterior ao Somos, que eu tentei criar e foi um desastre, porque ninguém tinha o mínimo de autoestima para continuar no grupo. Esse cara, de vez em quando, ia me procurar, quando eu morava numa comunidade em Pinheiros [bairro de São Paulo], que não era só de bichas. Ia me procurar apavorado, porque tinha trepado com um homem na noite anterior e estava com crise de dor de cabeça – ele tinha crises de enxaqueca a cada vez que trepava com um homem. Essa pessoa estava lá dizendo: “Vocês não têm o direito de dividir o proletariado!”.
Eu falei: “O quê? Eu vou carregar esses viados nas costas?”. Eu me levantei e subi na cadeira. Eu estava enfurecido quando vi aquilo e disse: “Olha aqui! Eu não vim aqui para falar em nome de lésbicas e gays, eu vim aqui porque estou tentando criar um movimento, e não sou dono dele! Se aqui nessa plateia, que eu sei que está cheia de lésbicas e gays, alguém quiser falar, por favor se manifestem!”. Ah, foi uma maravilha! Começou aquele pau, aquelas bichas dizendo: “Aqui na USP tá cheio de gente machista, de gente que odeia homossexual! Homofóbicos! Lá na ECA, eu tenho professor que não deixa tese…”. E daí começou a pipocar tudo…
Foi a coisa mais maravilhosa, a gente terminou aquilo em prantos! No final, muita gente veio na mesa, e foi nesse momento que apareceram as lésbicas para compor o Somos, depois de quase um ano – ia fazer um ano em abril, e isso foi em fevereiro de 1979.
Mas o Somos acabaria ainda no começo dos anos 1980, não é? Como foi esse momento?
Toda a nossa perspectiva libertária dentro do Somos, uma perspectiva politicamente muito inovadora, foi massacrada em nome dos valores de esquerda, que eu considero valores medíocres. Eu acho que a esquerda brasileira, a esquerda latino-americana em geral, é muito medíocre.
Um dia, nós descobrimos que estava sendo feito um curso camuflado, do qual o grupo não tinha notícia. Quem tinha notícia do curso eram as pessoas escolhidas pelo James Green – um assim chamado brasilianista, eu acho um grande oportunista, que tomou o meu lugar, inclusive falando em meu nome. Era um grupo clandestino escondido dentro do Somos. Era uma tentativa, que acabou acontecendo, de a Convergência Socialista [organização trotskista com origem no final da década de 1970] tomar o Somos.
Era tudo o que nós não queríamos. Ou seja, eram os homossexuais, de novo, darem a sua voz para que alguém a utilizasse. Alguém se colocaria como liderança. E o James Green se definia como um representante da Convergência Socialista dentro do Somos. Não tínhamos nenhum problema com relação a isso. Só que a proposta dele era muito mais grave. Era tomar o Somos para que o Somos se tornasse um braço da Convergência Socialista. O PT tinha sido fundado recentemente, a Convergência se juntou ao PT, e o Somos naturalmente foi para o PT. E lá ele se acabou.
Até hoje eu não vi nenhuma análise sobre como o PT fez a sua primeira experiência de cooptação, dentro do Somos. Certamente foi a primeira experiência de cooptação de movimentos sociais, que é uma coisa que depois se implantou universalmente dentro do PT. Quando os rolezinhos aconteceram aqui em São Paulo, o [prefeito] Haddad mandou procurar os líderes. Eles ainda estão acostumados com lideranças, e as manifestações do ano passado acabaram com essa brincadeira. Não existe liderança, nós não queremos mais líderes! Então para mim a felicidade foi imensa, inclusive porque eu via nas ruas aquilo tudo pelo que lutamos, e que perdemos dentro do Somos.
Então, na verdade, esse fim do Somos foi um processo anterior ao 1° de maio de 1980, quando o grupo esteve na manifestação do Dia do Trabalho na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo?
Talvez tenha sido no meio daquilo. Quando aquele, digamos, incidente de 1° de maio aconteceu, já estava a todo vapor a discussão da autonomia. “Discussão” em termos de embate. Porque um grupo queria tomar o Somos para que o Somos fosse Convergência Socialista, o outro não queria saber absolutamente de partido político metendo a mão no movimento homossexual.
E aí o que aconteceu no estádio de Vila Euclides? James Green era muito esperto. Eles tinham toda aquela formatação muito típica da esquerda no período, que era tomar as áreas. Em todo lugar, [a Convergência] metia uma faixa dela, uma bandeira dela. E nós sabíamos – pois o James Green estava organizando tudo – que o grupo ia sair não como o grupo Somos, mas como um grupo da Convergência. E assim a Convergência queria desfilar no estádio de Vila Euclides, ganhando força política.
Então nós nos recusamos. O grupo ligado a um ideário mais libertário disse: “Não! Onde é que está o povo brasileiro, a classe trabalhadora brasileira neste momento? Fazendo piquenique? Onde?”. E era no Parque do Carmo, que é um parque imenso na zona leste [da cidade de São Paulo], e foi lá que nós fomos. Claro que isso foi um escândalo para aquelas pessoas que tinham uma visão muito curta do que era política. Não tinham a menor ideia do que nós estávamos falando, porque elas partilhavam de todo o projeto político da esquerda do período. E nós já fazíamos uma crítica a isso. Bom, nós fomos engolidos, o Somos acabou.
Foi uma coisa tristíssima, era gente chorando pra todo lado quando aconteceu o racha do Somos. A Convergência ficou com o Somos e, em seguida – como a Convergência costumava fazer –, o Somos acabou. O problema deles era impedir que os adversários tomassem o espaço. Aí eles tomaram o espaço, e não interessava mais.
Tenho curiosidade de saber da presença do Néstor Perlongher (escritor e antropólogo argentino que migrou para o Brasil, autor de O negócio do michê) nesses diferentes momentos do Somos.
O nome Somos foi dado graças a um jornalzinho que o Néstor trouxe da Argentina, que se chamava Somos. E era um jornal interessantíssimo, de posturas libertárias, assim como o Néstor tinha. Mas, aos poucos, para se integrar à academia, à vida brasileira, ele começou a deixar de lado toda essa coisa libertária. Ele precisava se afirmar aqui no Brasil, pois não tinha como voltar para a Argentina. Ele já tinha sido muito perseguido lá, inclusive por ser homossexual.
Eu me lembro de um fato, que também narro no Devassos no paraíso, que é bombástico para mim. Eu não dei nome no livro, mas dou agora.
Quando começou a explodir a história do tal “câncer gay”, fui procurar o tio da Cristiane Torloni, o doutor Humberto Torloni, que estava sediado no Hospital do Câncer. Ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, isso era por volta de 1983. Ele fez estágio em hospitais americanos e tinha entrado em contato direto com a luta que começava a se organizar para enfrentar essa coisa que na época ainda não era a aids – era o “câncer gay”. Eu vi uma entrevista nos jornais e fiquei encantado com a postura dele, pois o negócio era muito feio.
Nós estávamos vivendo um processo de massacre total, porque nós éramos os responsáveis por introduzir uma doença terrível na humanidade! Fui procurá-lo e tive uma séria conversa. Ele me disse: “Meu filho, vocês não têm porque se sentir culpados. O que vocês têm que fazer é se organizar, porque vem vindo uma coisa muito feia por aí. E eu estou aqui disponível…”.
Fui tentar fazer uma reunião, que de fato aconteceu aqui na São Luís [avenida no centro de São Paulo], onde era a Secretaria Estadual de Saúde, pra tentar montar um núcleo que começasse a pensar maneiras de resistir e se organizar pra essa coisa feia que estava vindo. Pra isso eu engoli seco e fui procurar o representante do Somos – que era quem, então? Néstor Perlongher.
Me encontrei com o Néstor na esquina da São Luís com a Consolação. Nós não conversávamos mais, apesar de nunca termos brigado, mas ele comprou a briga do Somos e cortou relações. Disse a ele: “Nós temos que nos organizar, vem vindo uma coisa feia aí”. Contei todo o contato com o doutor Torloni, e ele me respondeu uma coisa que era emblemática do nível de alienação em que o Somos tinha entrado exatamente por ter se diluído dentro do partido político. Alienação – ou seja, tudo aquilo que nós não queríamos. E ele [Néstor Perlongher] me respondeu: “Nós no Somos estamos com graves problemas internos para serem resolvidos e não temos tempo para pensar em problemas de bicha burguesa que foi para Nova York trepar”.
Vocês sabem que o Néstor morreu de aids. É um momento muito trágico esse.
Pegando esse gancho e o que você comentou antes, o que aconteceu (fora a questão da aids), dos anos 1980 até agora, que fez retrair esse movimento de luta, que praticamente só voltou a explodir com os protestos contra o Feliciano?
Estou escrevendo um ensaio bem complicado, em que eu analiso o que aconteceu com a zona de sombra na política brasileira, que foi uma zona de sombra muito incentivada pelo PT. Ainda que o PT não percebesse que estava fazendo isso, ele se apresentou como partido da santidade, das vestais, da pureza política, e foi totalmente desmentido num esquema tão fantasticamente mistificado que nós tivemos uma situação como o mensalão sendo motivo para que se articulasse o lulismo.
Foi a partir do mensalão que o Lula, que é um cara espertíssimo politicamente, articulou as forças do PT através do seu carisma pessoal e criou um impacto político a partir de um fato que aparentemente seria muito negativo para o PT. Isso tudo significa uma grande capacidade de sobrevida, mas, ao mesmo tempo, uma grande capacidade de ignorar aquilo que é mau. Ou seja, isso que é ignorado vai para a sombra. É o que se chama de zona de sombra, em psicologia junguiana.
À medida que você só traz à tona do consciente os elementos positivos da sua personalidade, você vai criando no seu inconsciente uma sombra perigosíssima, porque a sombra é uma zona propícia para apodrecer, é uma zona em que não chega o sol. Então, acho que o que aconteceu, em grande medida, foi com o governo do PT se gestando – porque ele demorou pelo menos duas décadas e meia para se articular –, foi essa capacidade de vender o bem, de vender a justiça, e tudo aquilo que não estava integrado a esse conceito foi sendo jogado na sombra.
Os movimentos sociais brasileiros foram extremamente prejudicados por essa sombra, porque, na verdade, assim como o PT tentou destruir a oposição criando essa base governista imensa, ele fez a mesma coisa com os movimentos sociais. Os movimentos sociais são – ou eram, pois atualmente nem se pode dizer isso de uma maneira peremptória – a base do PT e, na verdade, quando os lideres desses movimentos subiram ao poder, eles naturalmente se tornaram braços de atuação do PT – com os quais o partido atuava em áreas diferenciadas, mas eram braços dele, ou seja, eram elementos de cooptação para a articulação do próprio PT. Algumas pessoas têm analisado essa situação, que eu acho muito grave. Assim como acho grave a emergência de uma bancada fundamentalista religiosa tão forte, acho muito perigoso o que aconteceu com os movimentos sociais.
Junho de 2013 deu um basta nesse movimento de cooptação. É uma novidade muito grande que mesmo os movimentos sociais que voltaram à baila hoje – tanto sindicatos quanto o MTST e o MST – estejam se confrontando com o PT.
E como você vê o movimento LGBT hoje?
O movimento LGBT é a ABGLT [Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais]? Aquilo é uma piada! É a cooptação sob o lema “cooptaremos unidos e assim seremos vencidos”. Exatamente o que a gente temia naquela época [do Somos].
Tem também a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, por exemplo – que tem inúmeros problemas, mas faz a parada.
Mas tem uma diferença muito grande. Com todas as críticas que se possam fazer à Associação, o resultado é popular. Bem ou mal, isso tem que ser preservado. Eu não tenho nenhum receio de que haja carnaval, de que haja festa… Acho maravilhoso que finalmente nós tenhamos chegado a um nível de celebração dos nossos direitos. Não é mais aquela coisa da esquerda, não é passeata. Nós temos agora Parada, porra! Eu acho que foi uma conquista política que nós tivemos. Nós vamos às ruas, damos a cara a tapa, e nós vamos dançar!
Aliás, eu devo dizer que um dos graves problemas do movimento homossexual brasileiro até hoje é que nós nunca conseguimos chegar até a população. Sempre foi um movimento de classe média. Só com as paradas é que a gente pode falar de alguma coisa parecida com uma manifestação popular, porque basta você pegar o metrô para ir até a [avenida] Paulista e você vê o que é bichinha, lésbica e travesti vindos das periferias aos gritos, cantando slogans como “icha, icha, icha, eu sou a mais bicha!”. Quando é que o movimento homossexual poderia pensar nisso? Jamais.
“(…) um dos graves problemas do movimento homossexual brasileiro até hoje é que nós nunca conseguimos chegar até a população. Sempre foi um movimento de classe média. Só com as paradas é que a gente pode falar de alguma coisa parecida com uma manifestação popular”
Ainda mais com essa perspectiva que você falou de que não existia autoestima nem pra se autoafirmar… Se a gente olha as paradas hoje pensando nisso, é uma grande transformação, não?
Cara, eu fui a todas as paradas [de São Paulo]. Eu acompanhei o começo. As pessoas iam de óculos escuros. E aos poucos as pessoas foram tirando os óculos e era uma coisa linda, nas primeiras paradas, quando as pessoas ficavam olhando pros lados assim: “Nossa, como tem gente que vive como eu! Que ama como eu!”. Eram olhares de encantamento nas primeira paradas. Aliás, até hoje, quando as pessoas estão chegando na parada é essa delícia.
Muitas coisas importantes aconteceram, mas nós não podemos esquecer que os direitos homossexuais ainda são alguma coisa muito longe do que as bichas, lésbicas, travestis de periferia, ou mais distantes do centro político, entendem.
Você chegou num ponto importante pra gente que é a questão de classe social dentro da comunidade gay. Sempre houve esse recorte “classe média” dentro do movimento?
Eu acho que na época isso não era sentido, porque não havia ainda essa consciência. O movimento pelos direitos homossexuais que nós tínhamos era aquele possível. Mas hoje, quando, digamos, o espaço dos direitos homossexuais se inflou, fica muito claro – especialmente em determinados momentos – que continua havendo um problema de classe aí. Basta vocês pegarem as festas da [boate] The Week. A The Week não vai à parada, e os frequentadores da The Week não vão à parada. Eles têm a sua festa. Por quê? Porque na parada “só tem gente feia”, ou seja, eles se julgam a elite. Eles não têm a menor ideia de que existem direitos homossexuais que foram conquistados. O nível de alienação dessa gente é brutal. Eu não sei se é maior nas camadas mais populares ou se é maior nessas “elites LGBT”.
É a necessidade da distinção a partir do que se consome. Isso de certa forma não favorece a segmentação dentro da comunidade e uma certa tendência a “consumir identidades” (ursos, barbies etc.)?
Eu não tenho a menor dúvida de que é isso que acontece. Se a gente for pensar de maneira muito séria sobre o futuro do movimento pelos direitos homossexuais no Brasil, eu não tenho certeza de como isso vai se configurar, porque essas rearticulações promovidas pelo consumo – como você bem diz, não apenas pelo consumo propriamente, mas pelo consumo identitário – acabam criando pequenos guetos dentro do gueto. E isso é muito ruim.
Agora, ao mesmo tempo a situação brasileira é tão ruim com relação à homofobia e aos preconceitos, que é possível chegar até aquilo que nós vimos em junho de 2013: manifestações populares de homossexuais com uma consciência muito mais acirrada dos seus direitos políticos enquanto homossexuais. E, se você tem esse lado, que é real, que é um lamaçal onde os direitos afundam e morrem, você também tem esse outro lado, que são as pessoas se integrando num determinado nível de luta que está em expansão.
Eu me lembro como, no Somos, quando a gente foi fazer aquela manifestação contra o Richetti, por exemplo, a gente se reunia para fazer os cartazes e era um drama! Ninguém sabia que frases colocar! As pessoas ficavam completamente ensimesmadas, porque não tinha muito o que tirar de dentro de si. E o que eu vi nas manifestações de junho do ano passado, e inclusive nas manifestações específicas contra o Feliciano, eram trocentros cartazes, eram n cartazes diferentes.
Falando em consciência e possibilidades de expressão: você vê relação entre o trabalho de escritor e as ações políticas?
Não é muito simples responder essa pergunta. Eu não faço literatura como militante, e não é porque eu não queira fazer, mas é porque eu acho natural. Literatura é literatura. Posso eventualmente trabalhar com as minhas convicções, com a minha consciência, com a minha fé, inclusive política. Mas literatura é um espaço da poesia, é um espaço da criação, é um espaço da expressão pessoal através da poesia. E a poesia é subversiva à sua maneira. Ela não precisa gritar slogans pra ser subversiva. Aliás, eu acho que a poesia tem um grau de subversão raramente encontrado na política, porque ela é uma subversão muito mais densa, muito mais interiorizada, e é uma subversão que é tirada do nada – é criação, é alguma coisa que vem do seu imaginário, da sua fantasia.
Como escritor, obviamente, utilizo os temas que me são caros, que me são importantes, mas o meu olhar, a minha criação, a minha abordagem é especificamente ligada à criação poética. Com isso eu acho que eu tenho também um trabalho de crítica e de reflexão a respeito da realidade, da realidade pessoal e da realidade brasileira. Basta você pensar no Ana em Veneza ou no Rei do cheiro [editora Record, 2009], que são dois romances que discutem o que é Brasil, o que é ser brasileiro, o que é estar neste país, o que é a realidade brasileira, o que é a história brasileira. Quais são as contradições com as quais nós nos defrontamos enquanto brasileiros. Respondi, será?
Seus livros andam esgotados. Você sabe quanto custa o Devassos no paraíso em sebos?
R$ 250,00 na Estante virtual, né? Estou agora começando a elaborar uma nova edição para e-book, mas uma edição muito simples. Vou acrescentar apêndices: uma entrevista com Laerte, uma com Daniela Mercury, com Jean Wyllys, provavelmente, que são pessoas que criaram, recentemente, situações muito importantes na questão dos direitos de homossexuais. Pelo menos o Devassos, este ano, sai em e-book.
E além dessa reedição, quais são seus projetos atuais, João?
Estou fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo: já terminei um novo livro de poemas, terminei um livro de contos. Isso sem falar nos artigos, nos projetos de romance, tenho pastas e pastas… Ao mesmo tempo, estou voltando à área de cinema. Tenho não sei quantos roteiros engavetados! E não aguento mais! E não tem como entrar em edital pra essas coisas. Tem ainda um jovem jornalista, Wagner Ribeiro, fazendo um documentário sobre mim.
Estou também elaborando testamento, porque a minha biblioteca, por exemplo, vai pra minha cidade – Ribeirão Bonito, entre São Carlos e Araraquara. É uma região de muita universidade, e é legal porque eu deixo a biblioteca pra consulta. Só a parte gay que eu quero doar, se der certo, para o Museu da Diversidade. E tem uma proposta de eu fazer a curadoria do museu, estou muito animado com isso. Talvez com base no Devassos.
E estou criando uma fundação. Sem dinheiro nenhum, mas de repente…
Aliás, ontem me ocorreu: meu exílio é hoje, talvez eu pertença ao futuro.
Ilustração: Emilia Santos.
Foto: Gui Mohallem.
Leia outras entrevistas da Geni.