instrumental
Adirley Queirós, androcentrismo, ficção científica, Instrumental, Lia Urbini, número 22, Paloma Franca
Androcentrismo e ficção científica
Nosso verbete do mês brotando do longa brasileiro “Branco sai, preto fica”, de Adirley Queirós.
Por Lia Urbini
A seção Instrumental procura realizar uma espécie de glossário expandido da Geni, no qual conceitos que orbitam o campo do gênero e da sexualidade são debatidos.
Representação política, novos movimentos sociais, teoria queer, patriotismo, sexo, gênero, marxismo, patriarcalismo, raça, periferia, sexualidade e feminismo abolicionista já entraram na roda em outras edições. Para nosso novo número, trago agora o “androcentrismo”. Contarei com a ajuda do filme “Branco sai, preto fica”, ficção científica do cineasta Adirley Queirós que pode nos fornecer imagens desse conceito, encarnado e operante.
O conceito
Androcentrismo -> Andro [do grego, relativo à homem] + centro + ismo = Visão do mundo centrada no ponto de vista masculino.
Segundo a Wikipedia, androcentrismo é um termo cunhado pelo sociólogo estadunidense Lester F. Ward em 1903: “Não se refere apenas ao privilégio dos homens, mas também (…) [à] forma como as experiências masculinas são consideradas como as experiências de todos os seres humanos e tidas como uma norma universal tanto para homens quanto para mulheres”.
Pierre Bourdieu, homem e sociólogo francês, pode também ser lembrado para complementar essa definição inicial: “a força da ordem masculina pode ser aferida pelo fato de que ela não precisa de justificação: a visão androcêntrica se impõe como neutra e não tem necessidade de se enunciar, visando sua legitimação. A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica, tendendo a ratificar a dominação masculina na qual se funda: é a divisão social do trabalho, distribuição muito restrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu lugar, seu momento, seus instrumentos…” (Bourdieu, em A dominação masculina).
De acordo com homens e mulheres que tratam do assunto, falar de androcentrismo não seria “coisa de mulher”. Não afetaria apenas mulheres. João Nery, trans homem, em recente bate-papo sobre transexualidade organizado pela Cia. Livre num teatro em São Paulo [Encontros Transvestidos, abril], mencionou um interessante estudo brasileiro sobre masculinidades (acredito tratar-se do estudo publicado no livro “Homens e masculinidades: outras palavras”, organizado por Margareth Arilha, Sandra Ridenti e Benedito Medrado; não confirmei com ele depois mas tudo indica que seria esse): vários homens respondiam à questão “o que significa ser homem?”. As três respostas mais comuns: ter pênis; gostar de mulher; e, em primeiro lugar, não ser mulher.
Inúmeras reflexões podem partir daí, mas para compormos nosso verbete é suficiente reter que, para muitos homens, seu maior outro, seu mais distante, tudo o que ele não é, não quer ser (ou não pode ser), sob o risco de trair sua mais inequívoca e profunda identidade original, é uma mulher. É possível, embora eu não ache muito provável, que mulheres respondessem à questão “o que significa ser mulher” com as mesmas respostas em sinal contrário: ter vagina; gostar de homem; e não ser homem. Poder ser mãe, ser forte, ser sensível poderiam também aparecer como respostas típicas. Sei lá. De todo modo, importa perceber a força que a característica “ser homem” ou “ser mulher”, com todas as formas que a performance masculina ou feminina possam ter, divide mundos. Assim como codifica e normatiza a aproximação desses mundos. Ainda hoje. Passemos ao filme para testar nosso verbete em ação.
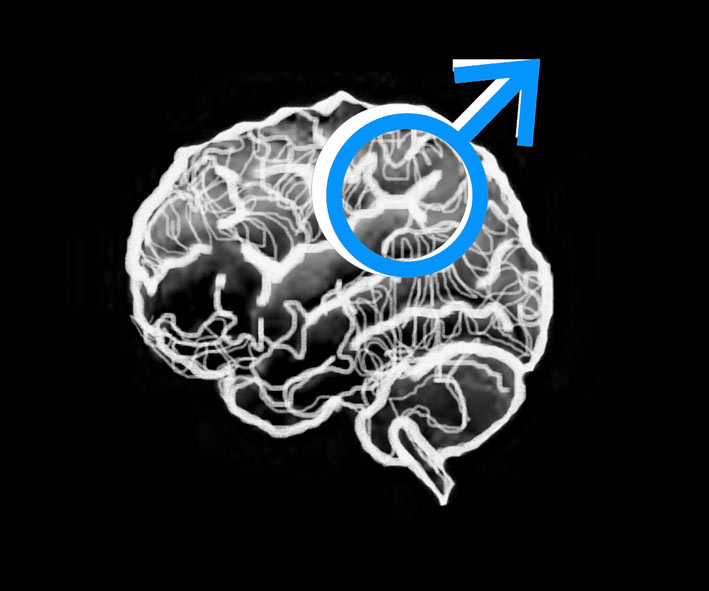
Encarnando
“Branco sai, preto fica” é o mais novo filme dirigido e roteirizado por Adirley Queirós. Adirley é ex-jogador de futebol e cineasta de Ceilândia (cidade-satélite de Brasília que abriga a maior favela da América Latina, o condomínio Sol Nascente). Integra o Coletivo de Cinema CECINE e tem sido aclamado como um dos principais nomes do cinema de periferia, ou mesmo do cinema “politizado”.
No que se refere à revanche negra periférica, sua produção aparentemente faz jus aos destaques. “Branco sai…” fica entre uma ficção científica possível da quebrada e um documentário sobre black music. Cravalanças é um personagem ficcional que viaja no tempo com um contêiner de latão e tem como missão encontrar provas de abuso policial em uma ação violenta acontecida realmente em 1986, em Ceilândia, num baile Black. O contêiner cai nas redondezas da casa de Marquim da Tropa que, dançarino adolescente na época, foi uma das vítimas da batida, ficando paraplégico. Seu amigo Shokito também foi atingido, passando a usar uma perna mecânica para se locomover. O cotidiano presente dos dois dançarinos é narrado com algumas invenções. Marquim mora em uma espécie de QG tecnológico reciclável: tem uma rádio pirata cheia de gambiarras, equipamentos de vigilância, elevadores ruidosos – grosseiros, mas funcionais – e uma simples e versátil cadeira de rodas. Elabora com os amigos uma espécie de bomba cultural sonora para explodir Brasília. Shokito torna-se ajustador de pernas mecânicas e desenha nas horas vagas seus ajustes de contas com o mundo.
No espírito do “a carne mais barata do mercado é a carne negra”, o cineasta e sua equipe marcam posição com a ênfase nos tempos e gestos específicos dessa periferia ciborgue. Os deslocamentos das “zonas especiais” ao plano piloto demandam passaporte, preparação e um bom rolê de carro. O tempo e o modo de execução das ações do dj cadeirante pela rua de terra ou pelas quinas do seu bunker sonoro não são falseados. Duram o que precisam durar e se repetem, como precisam se repetir. O arrastado da narrativa, antes de ser falta de domínio da linguagem, parece opção. Com muito significado.
Meu único e grande problema com o filme é o que não parece escolha consciente: a presença capenga das mulheres invisíveis. Quase-personagens criadas pela via negativa, a da ausência; elas – e, por consequência, eles – acabam incompletos. Algo inverossímeis. Explico.
O filme termina com a frase “A nossa memória fabulamos nóis mesmos”. Ela aparece depois do aparente fracasso na reconstituição das provas criminais suficientes para o fim da missão do viajante do futuro e do inusitado sucesso da explosão planejada pelos amigos.
Por um lado, a saída forçadamente não realista para a revanche pobre e para a viagem no tempo imprime à narrativa um tom lírico e talvez até mais forte ou crível do que a própria realidade simulada, partindo das bases nas quais estamos. Por outro, é o modo escolhido, dentro das possibilidades reais que a equipe tinha, para fabular presente, passado e futuro, mas esse nó(i)s é um nó(i)s marcadamente masculino.
Com direito a explosões, viagens fantásticas, história em quadrinhos, muita tecnologia da gambiarra, inventos no clubinho e produção musical, elementos que ainda estão predominantemente no universo dos homens. E, muitas vezes, dos homens héteros. O filme se propõe a fabular pedaços das histórias que são privadas, ocultadas, apagadas de um grande contingente de pessoas, independentemente de seu gênero (trata-se da exclusão operada pelo modelo capitalista de planejamento e desenvolvimento), mas na sua execução esquece as mulheres? Metade da população? Analisemos o possível “esquecimento”.
As únicas mulheres presentes na narrativa – e, notem, aparecem às vezes apenas por voz ou foto – são: a secretária do futuro, que fala por computador com o viajante temporal; a locutora da rádio que instrui sobre as regras de habitabilidade e trânsito entre o plano piloto e as áreas especiais; umas moças que aparecem em fotos, em segundo plano, no baile black; a ex-esposa do Shokito, que aparece em fotos quando este rememora a relação ao olhar o álbum de casamento; uma moça xavecada por Marquim, que aparece num relato do dj para a rádio; e duas vocais de apoio de um cantor de brega. Nessa, que é a maior cena com mulheres (de uns 5 minutos), o cantor começa apresentando a “canção do jumento”, que vive “balançando o instrumento”. A coreografia se faz com os braços entre as pernas, o que sugere uma grande genitália animal. Em seguida, Marquim pergunta algo como “Não tem alguma canção que elas participem mais?”. Elas cantam e dançam uma música sobre como o cantor é o cara mais gostoso da festa… Por último, podemos citar a segunda ordem policial, que vinha junto com a “Branco sai, preto fica” na blitz do baile, mas que não virou título do filme e nem é retomada, a não ser por meio do silêncio que soa demais: “Viado de um lado, puta de outro”. Fim das aparições e menções.
A depender de como a figura dessas mulheres fosse trabalhada, ela poderia ser uma sombra da segregação desse mundo. O sumiço das mulheres para os homens, que já não possuem a mobilidade total que tinham antes, poderia ser um sintoma do universo das parcerias afetivas e sexuais, rigorosamente marcado por um padrão determinado de corpo. Mas não existem indícios suficientes para deduzirmos as razões do desaparecimento das mulheres, muito menos indícios que comprovem a violência desse apagamento, seja no passado, no presente ou no futuro de “Branco sai, preto fica”.
A ausência que precisa sim ser justificada
Toda a filmografia de Adirley está no Youtube. Por lá é possível assistirmos aos curtas Rap, o canto da Ceilândia (2005), e Dias de greve (2009), e aos médias-metragens Fora de campo (2010) e A cidade é uma só? (2011).
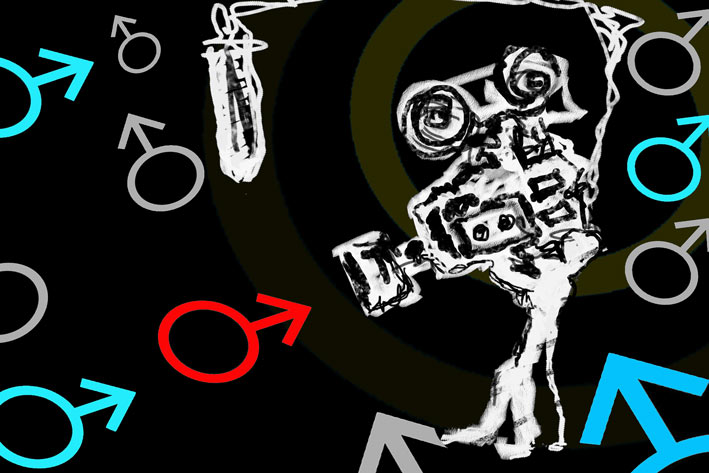
Visitando o conjunto da obra, percebemos que o fenômeno das mulheres invisíveis repete-se em praticamente todas as produções! Vemos os rappers da favela ralando pra cantar, os jogadores de futebol esquecidos e precarizados, o sindicalista clichê de uma esquerda dogmática em embate com os grevistas do novo tempo, um falso candidato a deputado fazendo sua campanha em estilo livre e popular… mas mulheres, só algumas namoradas, filhas ou parentes em segundo plano, dando um abraço, admirando o homem. Fazendo um café, uma marmita, dançando, servindo homens, na torcida do futebol ou comprando roupas. As únicas com algum papel relevante estão em A cidade é uma só? – elas falam sobre a Campanha do governo para a Erradicação de Invasões (CEI), germe da Ceilândia –, mas mesmo essas estão em um lugar ambíguo, entre o irônico e o extremamente ingênuo. Uma delas acaba reconstituindo com alguma nostalgia o jingle perverso da campanha do governo e promete, a pedido de ouvintes da rádio, incluir a vinheta em seu próximo CD.
Pois então o sujeito há dez anos começou a filmar histórias de invisibilizados, tematiza isso em todos os seus filmes, mas no momento de dar o “pulo do gato” e dizer a que veio (afinal de contas, seu próprio fazer cinema se pretende contra o estado presente das coisas), naturaliza o clube do bolinha?!
“São assuntos de homens, ou ao menos universos predominantemente masculinos, talvez o cara queira justamente retratar esse apartheid, retratar a vida como ela é, ou ao menos está” podem dizer alguns. “Não dá pra exigir que o cara aborde todos os assuntos, levantando a bandeira de todos os setores minorizados ao mesmo tempo”, diriam outros. São respostas que pra mim, nesse caso, não colam. Imagino até a possibilidade de não aparecerem mulheres presencialmente, mas as referências em diálogos poderiam mencionar alguma construção conjunta, algum companheirismo num sentido mais horizontal do que “minha irmã guardava todos os recortes de jornal que saiam sobre mim”. Poderiam ser filmes só com homens, mas os mostrando também em outras situações que não sejam somente o clichê do masculino (dirigindo ou consertando o carro, bebendo, empinando pipa, jogando bola, fazendo política). Mas não é isso o que acontece.
Como dizem uns pixos por aí, a revolução será feminista e travesti, ou não será! Depois de décadas importantes da esquerda sofrendo para conciliar combate às desigualdades com reconhecimento das diferenças, fico mais achando que errar uma vez é humano, mas persistir num erro como esse é… androcentrismo.
Referências:
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
Leia outros textos de Lia Urbini e da seção Instrumental.
Ilustração: Paloma Franca Amorim